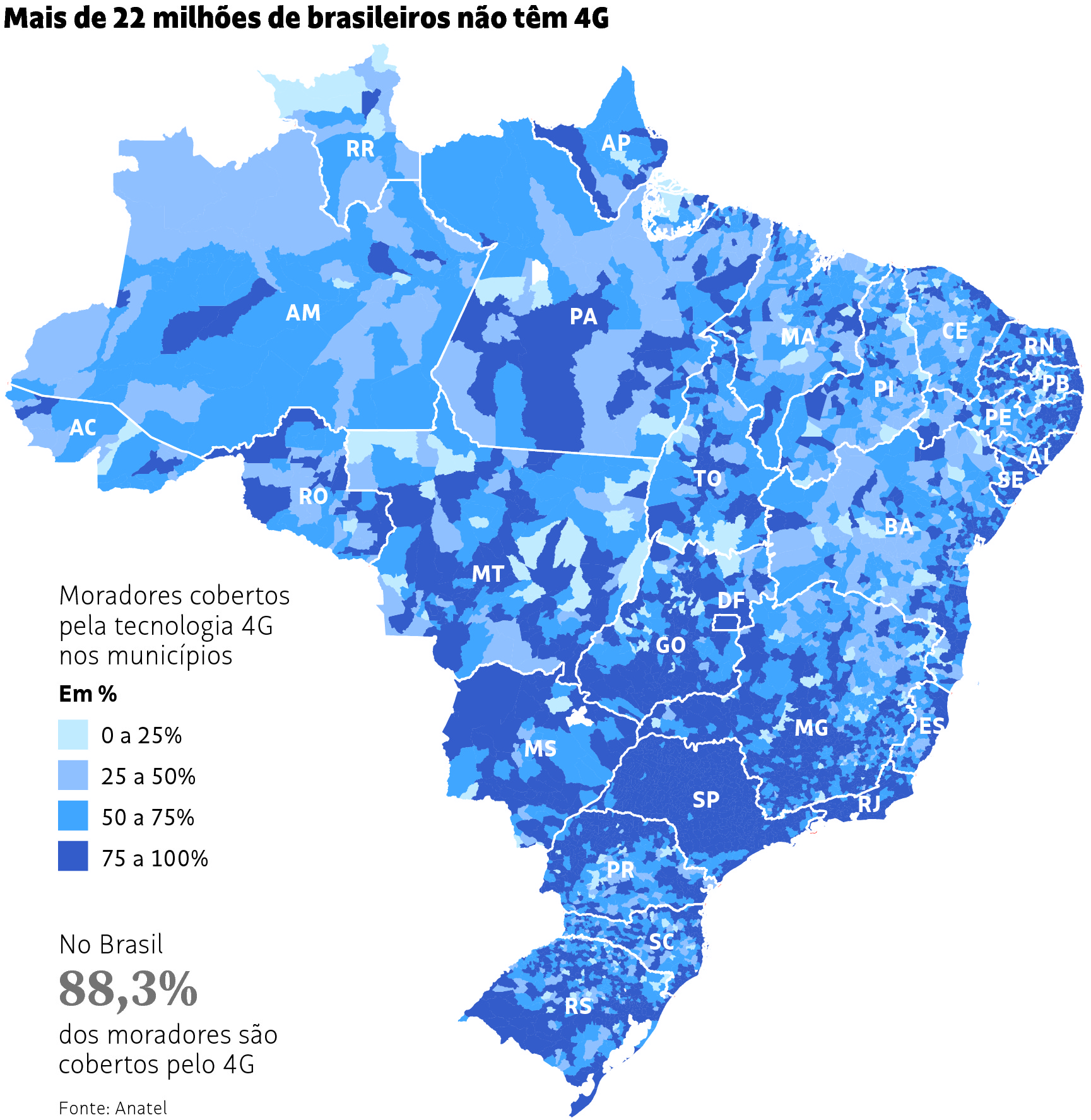Com uma toalha acima dos seus fios de cabelo crespo, Djamila Ribeiro se escondia do pai quando criança para brincar do sonho clichê das meninas brasileiras dos anos de 1980. Se ele descobrisse que a garota andava assistindo ao Xou da Xuxa, ela levaria uma bronca. Que dirá, então, se soubesse que ela sonhava em ser paquita.
Joaquim proibia os filhos de verem o programa porque dizia que a Rainha dos Baixinhos promovia o racismo e não era uma boa influência. O estivador, membro do Partido Comunista, não sabia contudo argumentar o que exatamente fazia dela uma pessoa racista. Mesmo assim, Ribeiro o entendia. Não existiam paquitas com a sua cor, textura de cabelo ou traços físicos.
As assistentes de palco que vestiam roupas de soldadinho de chumbo eram um tipo de réplica da apresentadora. O que restava a Ribeiro era apenas sofrer e culpar Deus por não ter feito com que nascesse branca.
É o que ela conta em seu novo livro, “Cartas para Minha Avó”. Depois de lançar “Pequeno Manual Antirracista” –o livro mais vendido da Amazon brasileira no ano passado–, a escritora, consagrada como um dos maiores nomes do movimento negro brasileiro, ressurge detalhando memórias das dores e delícias de sua infância e juventude.
Essa é a primeira vez que Ribeiro, mestre em filosofia política e colunista do jornal Folha de S.Paulo, expõe em detalhes sua vida íntima.
Ao contrário dos livros anteriores, este não fará parte das prateleiras acadêmicas. As páginas de “Cartas para Minha Avó” reúnem lembranças diversas, como as de corações partidos, do luto, da ansiedade do primeiro beijo, dos tabus sobre a maternidade e do gostinho aconchegante do colo de vó.
O carinho que Ribeiro sente por Antônia, sua avó que morreu em 1993, é o motor da obra, escrita em formato de carta dedicada a ela. “Foi muito doloroso. Foi muito difícil escrever esse livro”, afirma a autora. “Ao mesmo tempo, sinto que foi um processo muito curativo e importante.”
Para reviver memórias mais antigas ou de menor impacto, a escritora releu seus diários. Escrever acontecimentos marcantes em cadernos pessoais, diz, é um hábito que herdou do pai.
Isolada ora no campo, ora na praia, longe de sua rotina urbana e agitada, a ativista escreveu “Cartas para Minha Avó” sob um misto de sentimentos. Foi preciso revisitar traumas e, acima de tudo, expor uma mulher até então desconhecida pelo público.
O livro, contudo, está longe de conter experiências exclusivas da autora. Abuso sexual, assédio e racismo são alguns dos traumas narrados em detalhes.
Aos seis anos, ela viveu uma das primeiras cicatrizes que carrega até os dias de hoje. Um parente, de 11 anos, passou por cima de suas vontades e tentou obrigá-la ao sexo. Felizmente, a garota conseguiu apoio genuíno da família e conversas francas sobre consentimento.
“Falar sobre violência sexual com sinceridade ajuda outras mulheres a refletirem sobre essas questões e sobre as migalhas afetivas que a gente acaba aceitando em nome de tantas coisas”, afirma a escritora, que teve uma vida amorosa recheada desses pedacinhos de afeto abusivo.
Grande parte dos garotos que se mostraram atraídos por Ribeiro na juventude –algo que raramente acontecia com ela, se comparada às suas amigas brancas– a tratavam como um mero corpo erótico. Nada de mãos coladinhas, abraços apertados, frases carinhosas ou quaisquer gestos de amor. Só a pura libido juvenil.
Demorou para que Ribeiro se sentisse digna de ser amada. Entre recreios de escola –marcados por gargalhadas de estudantes e piadas racistas– e bailes black juvenis, ela foi percebendo que seu incômodo não vinha de ser uma mulher negra, mas sim do que isso significava.
“Cartas para Minha Avó”, segundo a autora, é “uma declaração de amor ao feminino, sobretudo negro”.
“As nossas memórias, muitas vezes, tocam as pessoas de uma forma mais potente do que qualquer livro acadêmico”, afirma a ativista, usando como exemplo seu breve ensaio autobiográfico incluído em “Quem Tem Medo do Feminismo Negro?”, que saiu há três anos.
Quando publicou o best-seller, foram dezenas as cartas que ela recebeu. A maioria assinada por leitoras negras que se diziam identificadas com angústias, traumas, conquistas e desejos ali expostos.
Para a escritora, a juventude atual é muito mais engajada do que a sua geração. Ela argumenta que é cada vez mais comum que discussões como preterimento, solidão da mulher negra e a objetificação desses corpos ganhem visibilidade.
Durante sua graduação em filosofia –que terminou em meio a críticas por deixar a filha pequena, de três anos, sob cuidado único do pai na maior parte da semana enquanto estudava em outra cidade–, ela se sentia menosprezada pelos próprios professores ao querer pesquisar os assuntos pelos quais hoje é conhecida. Eles a chamavam de “a menina que não estudava filosofia pura”.
“Hoje em dia, há até teses de doutorado sobre a solidão da mulher negra. Há muita diferença”, comemora.
Quando decidiu que se dedicaria ao mundo acadêmico, a ativista trabalhava num escritório de logística. “Filosofia? Você terá que vender brincos na praia para sobreviver”, ouviu do chefe.
No livro, a escritora disseca ainda suas memórias sobre o luto através de uma perspectiva racial e de gênero. Após ser pressionada a não expressar sofrimento em demasia diante das mortes de seus pais, a ativista atrelou o fato à sua condição de mulher preta.
“Quando a vida te der limões, faça uma limonada”, ouviu de uma dirigente de centro espírita ao tentar desabafar sobre o luto que ela e os irmãos vinham enfrentando. O episódio parte do pressuposto de que povos negros têm uma força não humana, diz Ribeiro.
“Eu sou mãe. Sou escritora. Lavo louça. Acho que é importante ocupar esse lugar humanizado para que não criem espantalhos sobre mim”, diz a ativista, enfatizando ainda que “falar do que se tem vontade” também é necessário para quebrar o mito da força sobrenatural da mulher negra.
“Às vezes, estou tomando cerveja, e não é incomum alguém aparecer e dizer: ‘Nossa, racismo é pesado, né?’. Nessas horas, penso: ‘Muito, mas hoje eu só queria tomar uma cerveja’.”
Folha: FolhaPress/Marina Lourenço