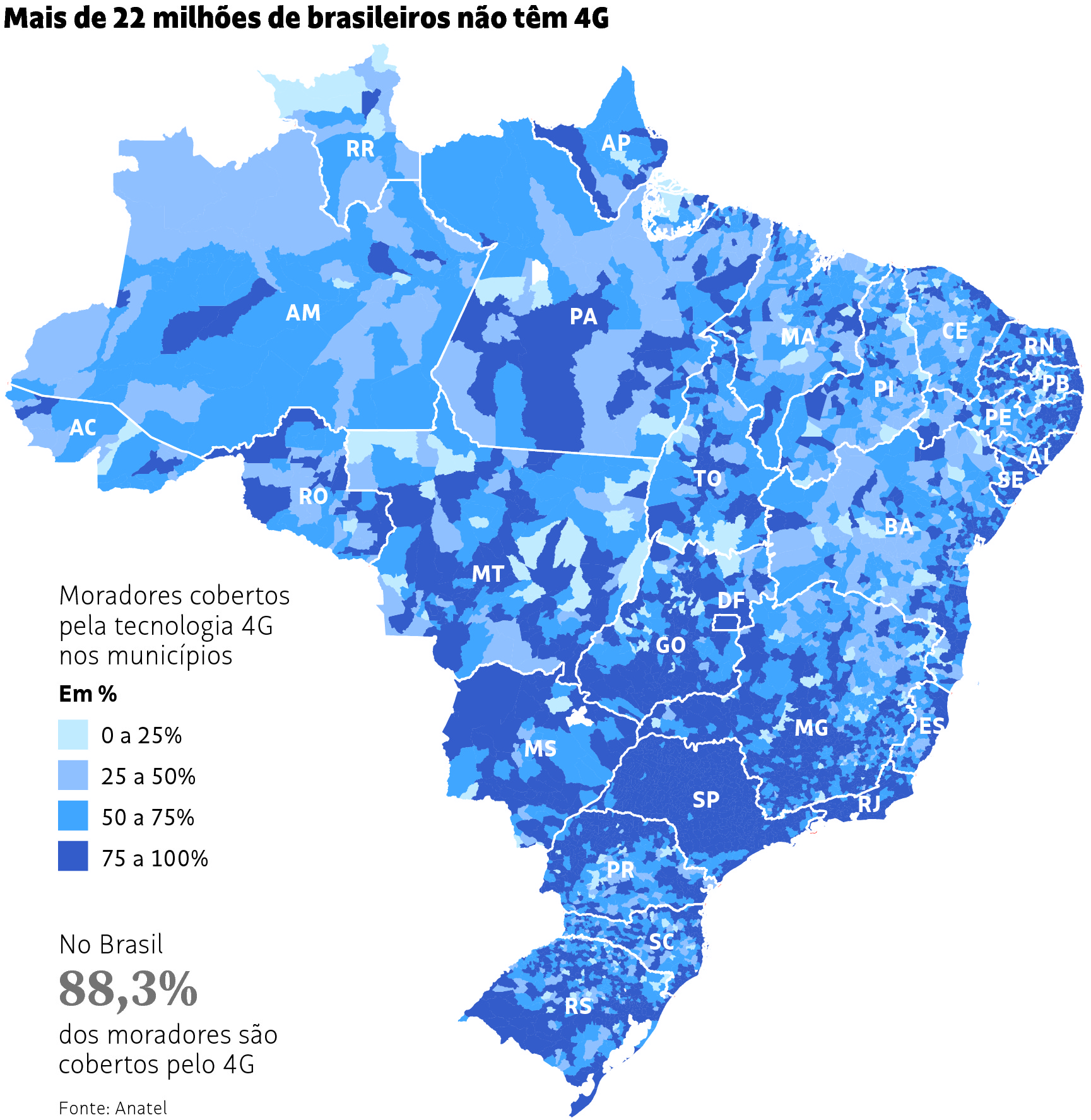Para David Bowie, Deus está morto e o diretor Brett Morgen faz questão de começar o longa com uma citação do artista, que, ao referenciar o filósofo alemão Nietszche, pergunta: quem vai preencher essa lacuna espiritual na sociedade?
Depois da bonança, a tormenta. O filme realmente se inicia com diversas imagens que vão desde sessões de fotos de David Bowie e registros de seus shows, até cenas retratando a corrida espacial, o expressionismo alemão e peças de teatro do gênero japonês kabuki.
Os primeiros minutos servem como modelo do que o espectador vai encontrar pelas próximas duas horas.
“Moonage Daydream” funciona de duas formas: é um show para os espectadores que querem ouvir as músicas do artista e/ou é um documentário experimental que adentra na intimidade do cantor com imagens inéditas.
Para aqueles que buscam a primeira opção, o cinema é o único meio de ver o longa: som e imagem de boa qualidade são essenciais para se sentir em meio ao público de uma apresentação do artista.
Se a preferência for a segunda opção, o espectador vai se deparar com um documentário pouco linear e até confuso em alguns momentos, mas que busca apresentar as principais personas de David Bowie enquanto intercala trechos de shows com entrevistas nas quais Bowie fala sobre tudo: sexualidade, família e capitalismo.
Com maquiagem colorida e salto plataforma, ele afirma em entrevista: nunca serei o verdadeiro David Bowie, sempre estarei criando figuras novas para me encaixar.
Ao longo do documentário, porém, o artista vai se contradizendo e mudando suas opiniões, afinal, o filme compreende um período de quase cinco décadas de invenções artísticas.
Desde “Space Oddity” até “Blackstar”, Bowie popularizou, ainda no século 20, o que a geração atual chama de “era” de um determinado artista: mudam-se as roupas, o cabelo, o estilo musical e até o jeito de falar para adentrar em um novo conceito a ser apresentado para o público.
Foi a partir dessa versatilidade que a denominação de “camaleão do rock” surgiu.
No documentário, porém, é contada a história do irmão mais velho de Bowie, Terry Burns, que apresentou ao caçula obras que seriam suas referências artísticas até o fim da vida.
Terry, porém, foi diagnosticado com esquizofrenia e internado em um hospital psiquiátrico, onde ficou até o fim da vida.
O medo de uma doença mental por parte de David Bowie existia. Seriam suas personas uma manifestação de algum distúrbio?
Bowie não pensava muito nisso, seguia fazendo suas músicas, atuando em filmes como “O Homem Que Caiu na Terra” (1976) e “Labirinto” (1986), e viajando o mundo.
Várias jornadas fora do Reino Unido, e suas respectivas composições, são mostradas no documentário.
Los Angeles e “Station to Station”, Berlim e “Heroes”, Singapura e “Let’s Dance”. Após um período sabático no sudeste asiático, Bowie voltaria a performar com o álbum “Let’s Dance”, julgado por muitos como seu álbum mais comercial.
O documentário lhe dá direito de resposta, e ela acaba sendo simples: ele queria se aproximar mais do seu próprio público, fazendo uma música mais otimista, fora da vanguarda.
Foi nesse período, também, que David Bowie e Tina Turner fizeram, juntos, um comercial da Pepsi, novamente rechaçado pelo público. Sobre isso, o artista diz em uma entrevista mostrada no documentário: “pobreza não é sinônimo de pureza”.
Porém, como é de praxe, suas opiniões não iriam se manter as mesmas.
Bowie casou, adoeceu e se despediu do mundo com seu último álbum, “Blackstar”, dizendo que a mediocridade não era o lugar pelo qual ele merecia ser lembrado.
De fato, para o diretor Brett Morgen, Deus está morto e se chama David Bowie.
Fonte: CNN