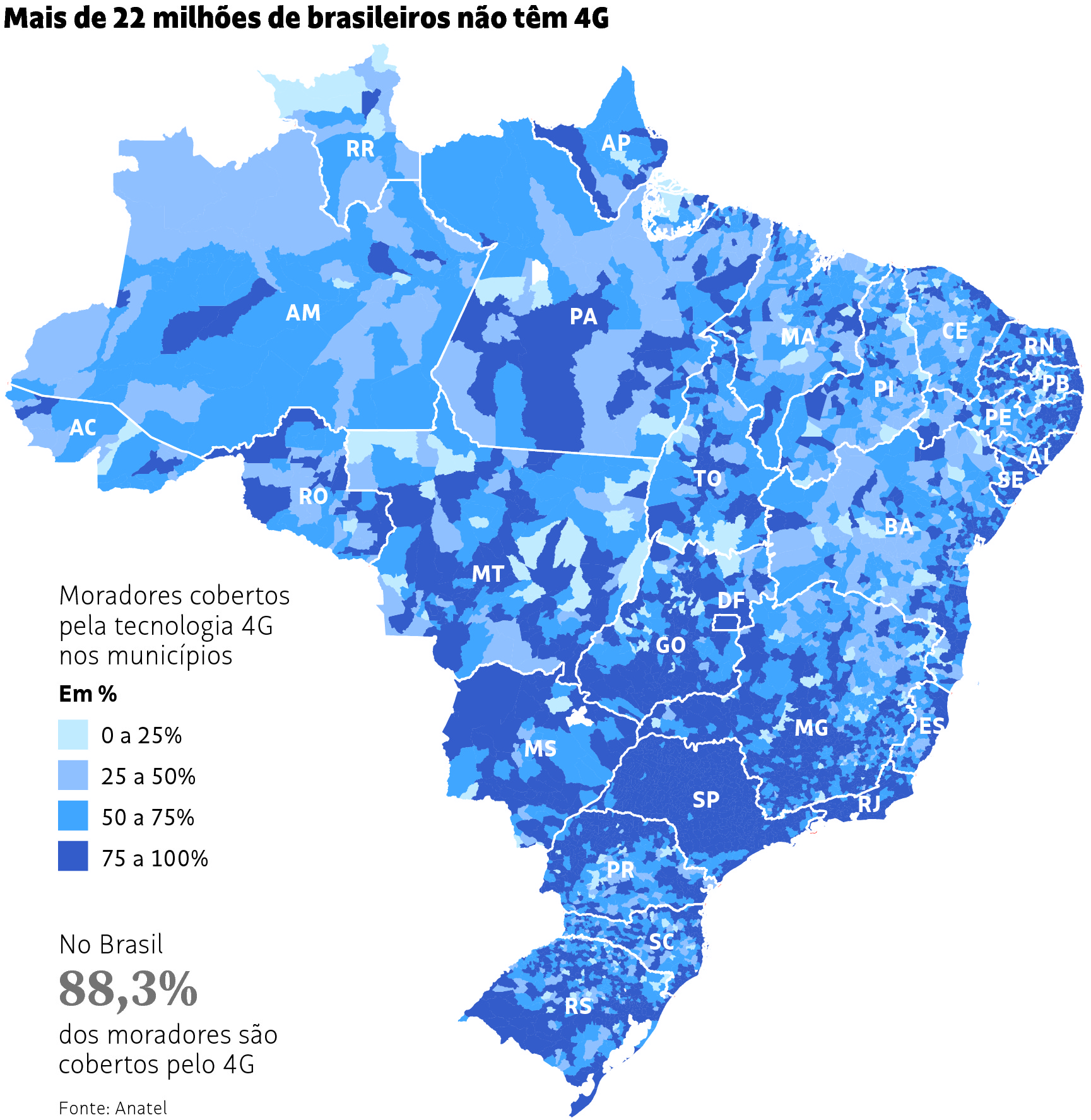Escrevendo sobre o passado, Eliana Alves Cruz despontou como uma das grandes autoras de seu tempo. Seus três primeiros romances se passavam durante a escravidão, com um olhar afrocêntrico que enchia histórias antigas de vigor e novidade.
Agora, “Solitária” apresenta sua primeira narrativa ambientada nos dias de hoje, protagonizada por Eunice e Mabel, mãe e filha que moram no quarto dos fundos da cobertura de luxo onde a mais velha trabalha. Parece uma guinada temática na carreira da autora –mas ela não vê assim.
“Se você reparar bem, esse livro é mais ou menos contemporâneo, porque fala da mesma coisa que as obras de época”, diz a escritora de 56 anos, cabelos curtos e olhar firme, ao repórter. “São sobre vidas da escravidão, uma relação com o trabalho baseada no colonialismo e na mentalidade escravocrata. Só muda a roupagem.”
Não precisa ir longe para entender do que ela está falando. No mês passado, repercutiram na imprensa dois casos de mulheres resgatadas de trabalhos análogos à escravidão em casas de família, ambas após sofrerem mais de cinco décadas de martírio.
Alves Cruz comenta que a quarentena trouxe à tona tantas histórias de maus-tratos de trabalhadoras domésticas –”eu nem gosto de usar esse termo, tem algo de bicho, de alguém que você adestrou”–, como a tragédia que vitimou o menino Miguel, que a história de Eunice e Mabel ganhou urgência inadiável.
“Ainda existem pessoas que não assinam carteira, que importam gente do interior para trabalhar em suas casas”, comenta. “Uma jornalista me falou que as plantas de apartamentos modernos já não têm o quartinho de empregada. Mas se o quartinho não está lá, está em algum lugar. A nossa pergunta é para onde ele foi, porque a nossa elite dá um jeito de perpetuar isso.”
É para isso que “Solitária” procura soar um alarme. Eunice cria a filha desde a infância nos limites exíguos a que ela se reserva na casa dos chefes –melhor dizendo, em que ela se confina, já que o ar de cárcere fica cada vez mais sufocante conforme a narrativa se espreme pelos espaços apertados que os funcionários do luxuoso prédio Golden Plate têm permissão para ocupar.
“Uma jaula deixa de ser a vilã da liberdade só porque é pintada de dourado?”, anota Mabel, a filha, que divide a narração do livro com a mãe e se rebela cada vez mais. “Reparei mais uma vez que, para quem não era patrão, tudo era ‘inho’: quartinho, apartamentinho, banheirinho.”
A história do romance “Solitária” poderia se resumir ao quanto a filha acaba abrindo os olhos da mãe, mas isso seria desmerecer o quão bem talhada é a personalidade de Eunice, com o misto aturdido de voluntarismo e obrigação, de afeto genuíno e exploração laboral que é intrínseco ao seu emprego.
“Acho que às vezes a gente está numa situação ruim, mas se acostuma com ela e não quer sair porque é ruim, mas é conhecido”, narra a mulher a certa altura. “Era assim que eu me sentia trabalhando na casa de dona Lúcia.”
“Veja, é óbvio que eu sei que existem pessoas brancas conscientes disso tudo e que não reproduzem essas coisas”, afirma a autora Eliana Alves Cruz sobre um romance no qual patrões são marcados pela arrogância. “Mas essas pessoas não estão retratadas ali e não vão se sentir atingidas. Não estamos falando da exceção, sabemos qual é a regra. A regra são 57 milhões de votos na pessoa que a gente elegeu.”
Esse ar de denúncia talvez perigue subestimar a sofisticação do trabalho da autora, por isso vale lembrar as obras que consagraram seu projeto literário até aqui.
Sua estreia, “Água de Barrela”, partiu de uma busca pessoal da escritora pelas próprias raízes para puxar o fio de uma árvore genealógica negra que começa na África e termina em Eliana. “O Crime do Cais do Valongo”, o livro seguinte, usa recursos de thriller para revelar quão pujante era a cultura negra retida nas correntes da escravidão.
O terceiro, “Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja”, marcou sua mudança da editora Malê para a Pallas –casas independentes e comprometidas com a publicação de autores negros– e ousou ao mostrar paixões de uma personagem transexual no Brasil colonial.
Comum a todos os trabalhos é uma meticulosa pesquisa histórica que valeu a Alves Cruz, por exemplo, o convite para dar a aula magna do curso de história da Universidade Federal do Rio de Janeiro no mesmo dia em que conversou com este repórter.
É um olhar que não precisa abdicar do rigor acadêmico para cunhar uma ligação indissociável com a herança familiar e afetiva, presente na obra da autora desde as primeiras páginas. Não é diferente em “Solitária”, que traz uma cena comovente em que a mãe de Eunice, no leito de morte, se assegura de que a neta não esquecerá suas lições.
“Mabel, no dia que você entrar naquela faculdade, vai esquecer que lhe ensinei a curar dor de cabeça com chá de folha de louro e casca de cebola?”, pergunta a mulher idosa. “E que leite de inhame cura dor de estômago?”, completa Eunice. “Não tem nada que me tire essas certezas, dona Codinha”, responde a neta.
“É aí que entra a tal da tão falada literatura negra”, afirma Alves Cruz. “É aí que entra esse ‘negra’. Porque isso é uma coisa muito nossa, olhar o tempo sem que ele seja uma coisa estanque, como algo circular. Você tem passado, presente e futuro convivendo. E isso é algo bastante inerente à cultura africana.”
A reverência ao que veio antes não aparece só em termos genealógicos, com a preocupação em manter viva a tradição da oralidade, mas também nas influências literárias. Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, por exemplo, aparecem lidas pelas personagens de Alves Cruz.
“Quando este livro ficou pronto, eu mandei uma mensagem para a Conceição para agradecer de coração aberto. Ela se manteve no mercado editorial com todas as agruras possíveis, só veio ao grande público aos 70 anos. Eu já vim com 20 anos a menos, aos 50. E sei que as que estão vindo aí vão conseguir usufruir disso ainda mais jovens.”
Seu projeto literário tem ligação umbilical com esse projeto de futuro. Dá para dizer que são construídos do mesmo tecido. A escritora diz com alguma emoção que o discurso famoso de Martin Luther King –aquele em que ele diz “eu tenho um sonho”– sempre vem à sua lembrança por uma razão particular.
“Eu acho esse discurso lindo por outro motivo, não pela coisa utópica de sonhar com um mundo melhor. É porque ele é um homem negro, no centro do poder, dizendo que tem o direito de pensar um futuro para ele e para os seus. E eu também tenho o direito de sonhar.”
SOLITÁRIA
Autora: Eliana Alves Cruz.
Editora: Companhia das Letras.
Quanto: R$ 54,90 (168 págs.); R$ 37,90 (ebook).
Quando: Lançamento na Blooks Livraria do Rio de Janeiro, na sexta (6), às 19h
Fonte: FolhaPress/Walter Porto