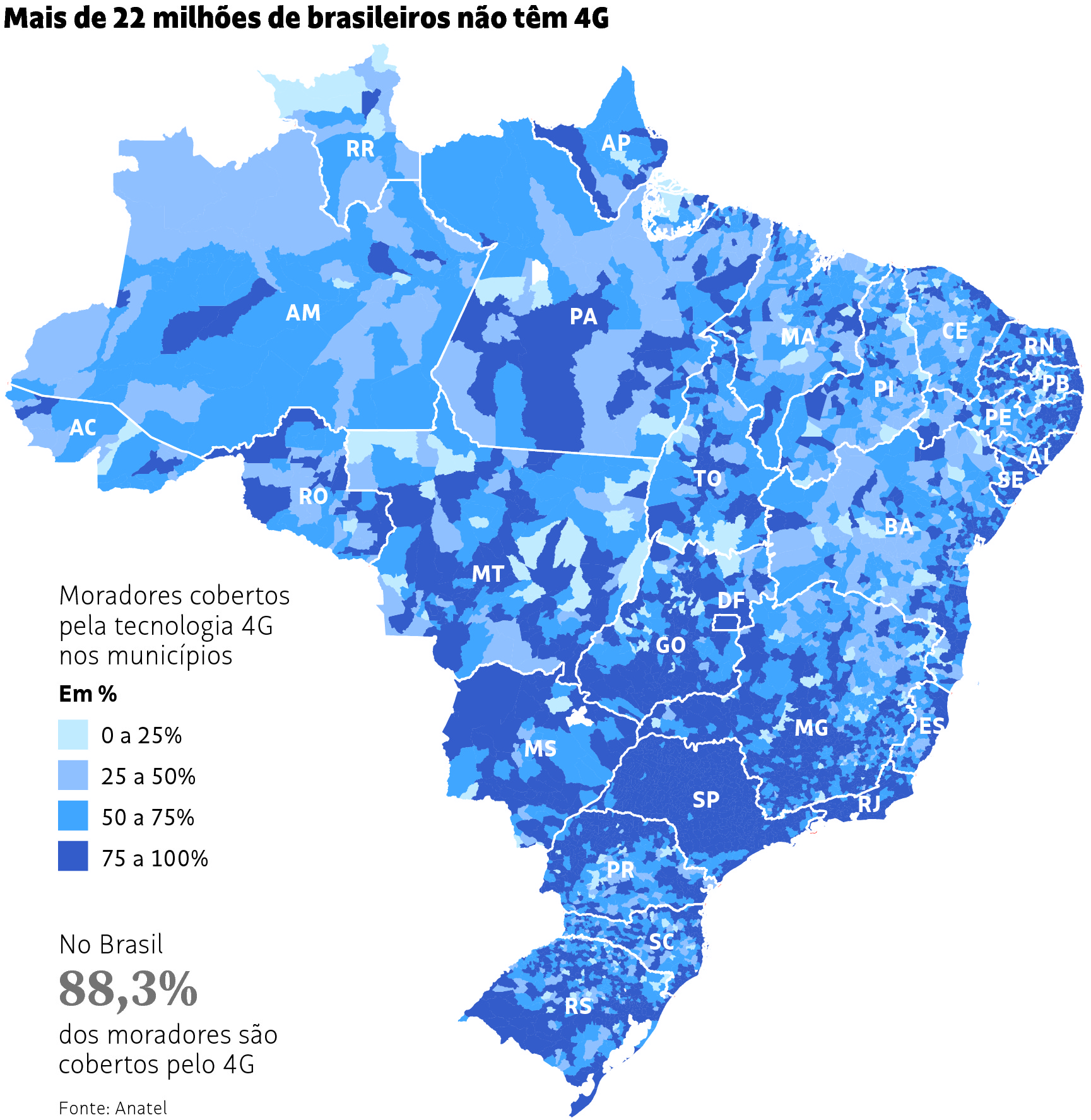Entre as muitas virtudes de “Templários”, livro do historiador britânico Dan Jones sobre a mais famosa das ordens de monges-guerreiros da Idade Média, a mais chamativa talvez seja o fato de que o autor não tem a menor paciência com os mitos que foram criados em torno do tema.
Anote aí -os cavaleiros do templo não eram nem os fanáticos sanguinolentos do filme “Cruzada”, de Ridley Scott, nem a sociedade secreta libertina e herética de “O Código Da Vinci”. E não, eles nunca chegaram nem perto do Santo Graal –embora o grupo e os demais cristãos da época de fato não desgrudassem de outras relíquias sagradas, como fragmentos da cruz na qual Cristo teria sido crucificado.
Se não eram nenhuma das duas coisas lembradas no último parágrafo, quem eram os templários, afinal? A resposta é complicada e cambiante, como Jones demonstra ao longo de quase 500 páginas. Mas não seria muito incorreto comparar os cavaleiros a uma multinacional de sucesso, na qual os objetivos religiosos, militares, diplomáticos e econômicos funcionavam de forma –relativamente– harmônica, abrangendo uma área que ia de Portugal aos atuais Israel, Jordânia e Síria.
Ao adotar uma divisão quadripartite para o livro, Jones resume bem as mutações sofridas pela ordem, ou as múltiplas personalidades do grupo –as quatro partes levam os títulos “Peregrinos”, “Soldados”, “Banqueiros” e “Hereges”.
Com efeito, o primeiro termo é uma boa descrição das origens humildes dos Templários. O grupo começou com reuniões informais de cavaleiros vindos da Europa Ocidental –em especial das regiões de língua francesa– para a Terra Santa um pouco antes de 1120.
Duas décadas antes disso, Jerusalém e outros territórios do Levante tinham sido conquistados por membros da nobreza católica europeia na expedição que ficaria conhecida como Primeira Cruzada.
Apesar do sucesso inicial dos cruzados no Oriente Médio, o recém-criado reino cristão de Jerusalém ainda estava cercado por domínios muçulmanos muito maiores. Os líderes do Egito e da Síria logo passaram a planejar a retomada de Jerusalém, cidade que também é sagrada para o Islã.
Esse fator, somado à natureza improvisada do novo reino, fazia com que os peregrinos cristãos que se dirigiam para lá enfrentassem muitos perigos, de salteadores a incursões islâmicas.
Para enfrentar esses problemas de “segurança pública”, como diríamos hoje, algumas dezenas de cavaleiros que costumavam se reunir na igreja do Santo Sepulcro passaram a oferecer proteção aos peregrinos e também a prestar serviços militares ao reino de Jerusalém, sob a liderança de um nobre francês chamado Hugo de Payns.
“Em parte guarda-costas, em parte pobretões convictos, nascia uma pequena irmandade dedicada somente às armas e à oração: agora os templários tinham um propósito”, escreve Jones. No começo, até a alimentação e as roupas do grupo vinham de doadores. Ao montar seu quartel-general na mesquita Al-Aqsa, que os cristãos designavam erroneamente como Templo de Salomão, os cavaleiros começaram a ser conhecidos como templários. A partir desse começo humilde, a irmandade foi ganhando prestígio e uma identidade própria graças às habilidades diplomáticas de Hugo de Payns e seus sucessores. Em viagens para a Europa, os representantes do grupo conseguiram conquistar a simpatia e o apoio financeiro de figuras-chave da nobreza e da Igreja Católica, como os monarcas da França e da Inglaterra e o monge Bernardo de Claraval, mais tarde canonizado.
Grande intelectual e místico, Claraval ajudou os templários a definirem seu caráter como uma ordem monástica, que combinava os tradicionais votos de pobreza, obediência e castidade dos demais monges com os seus deveres militares –oficialmente, eles se tornaram a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O religioso também estimulou os fiéis europeus a direcionar recursos financeiros e militares à defesa da Terra Santa e a herdar vastas propriedades em diversas regiões.
Com isso, foi criada uma hierarquia templária que era relativamente independente das demais estruturas de poder eclesiásticas –com exceção do papado, é claro. Havia os cavaleiros propriamente ditos; os sargentos, membros da ordem que tinham funções militares, mas não eram nobres; outros dedicados a funções administrativas; e, por fim, padres que prestavam assistência espiritual aos demais irmãos, mas não lutavam.
A força bélica do grupo foi crucial durante todo o tempo de existência dos Estados cristãos na Palestina –que acabaram desaparecendo em 1291, sob pressão muçulmana. Tinham a fama de ser os primeiros a atacar e os últimos a se retirar do campo de batalha.
Mas os templários também sabiam ser pragmáticos. O poeta e diplomata sírio Usama ibn Munqidh, que visitou a Jerusalém dos cruzados em meados do século 12, chama os membros da ordem de “meus amigos” e conta que costumavam emprestar uma capela na mesquita Al-Aqsa para que ele rezasse voltado para a cidade santa de Meca mais à vontade.
Chefes da ordem de cavaleiros também tentaram evitar, mais de uma vez, que nobres vindos do Ocidente realizassem ataques impensados aos vizinhos muçulmanos dos territórios cristãos, conscientes de como era precário o equilíbrio de forças que permitia a existência do reino de Jerusalém.
A capacidade administrativa da ordem também ajudou a forjar elos comerciais e bancários entre os extremos ocidental e oriental do Mediterrâneo. Peregrinos que depositavam seus bens num estabelecimento templário em Londres ou Barcelona os podiam resgatar com facilidade quando chegassem a Jerusalém ou Beirute, por exemplo.
Foi em parte esse tino para os negócios o responsável pela perdição da ordem. Em maus lençóis financeiros, o rei francês Filipe, o Belo acusou os Templários de rituais satânicos e práticas homossexuais (ao que tudo indica, falsamente), com o objetivo de assumir o controle dos bens do grupo. Com a conivência do papado, a ordem foi suprimida em toda a Europa, embora só os templários franceses que se recusaram a se confessar culpados tenham morrido na fogueira.
Fonte: FolhaPress/Reinaldo José