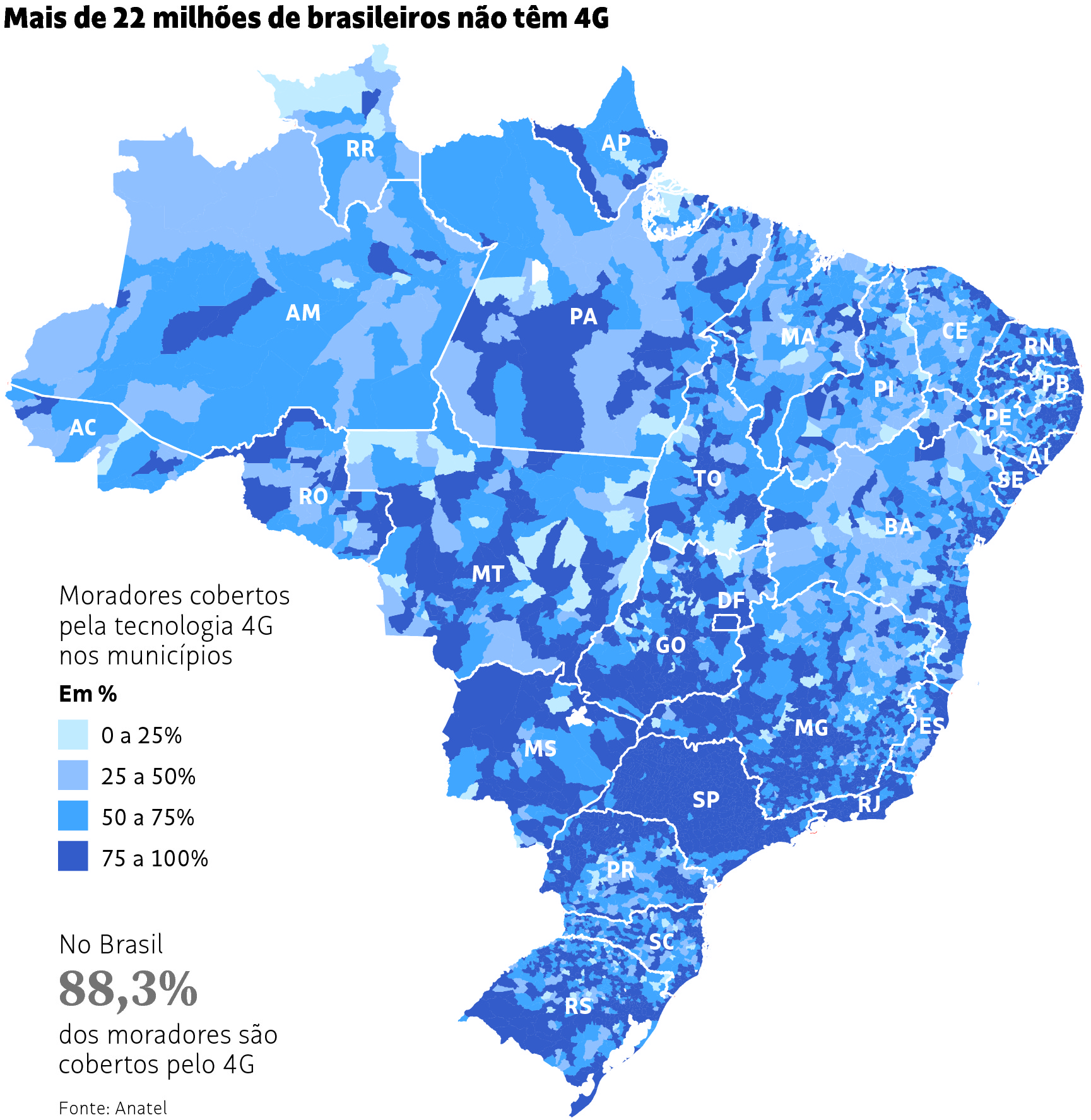Em algum momento indefinido da história recente da humanidade, a tatuagem que simboliza o infinito -o número oito deitado- deixou de ser considerada descolada. Repetida à exaustão, tragicamente, ela entrou no rol das tattoos consideradas kitsch, entrando para a lista que inclui rabiscos de borboletas, âncoras, três estrelinhas e a famigerada mensagem de “carpe diem” que preenchem ombros, calcanhares e antebraços mundo afora.
“Music of the Spheres”, o nono álbum de estúdio do Coldplay, é a representação musical de uma tatuagem de infinito -“good vibes”, espiritualizado, extremamente popular e considerada brega por muita gente.
Quando jovem, Chris Martin pendurou um pôster do U2 na parede do quarto. Queria se inspirar, e principalmente, tirar Bono e The Edge do topo do mundo. E hoje não há uma banda maior do que o Coldplay -pelo menos no mundo pop ocidental, já que uma comparação de popularidade com artistas do k-pop, j-pop e até c-pop é inútil.
Mesmo que as letras apresentem pretensiosas narrativas de ficção científica amparadas por um papo meio zen e ideias otimistas que parecem ter saído de contas de Instagram dedicadas ao coaching, “Music of the Spheres” oferece uma robusta viagem para o futuro do pop. Nunca o Coldplay soou tão eletrônico aqui.
De comum entre aquela banda surgida em “Parachutes”, de 2000, e esta do novo disco são os agudos indefectíveis de Chris Martin, no máximo. De resto, nada está igual, do som lamurioso transformado em hinos de refrãos cantaroláveis para estádios ao avanço da calvície do baterista Will Champion que, em 1999, ostentava uma cabeleira ruiva espetada com o auxílio de toneladas de gel fixador.
Reclamar da transformação pop do Coldplay, contudo, soa quase terraplanista. Há pelo menos 16 anos, desde o sucesso de “Speed of Sound” (do disco “X&Y”), a tendência estava clara. Os álbuns “Viva la Vida or Death and All His Friends”, de 2008, e “Mylo Xyloto”, de dez ano atrás, só reafirmaram isso. Desde então, Martin e companhia buscam uma fórmula cientificamente comprovada para transformar melancolia em algo fluorescente, como fazem em “Music of the Spheres”.
Por isso é importante a aproximação com o produtor mais importante da música de rádio da década, o sueco Max Martin, que atua em todo o álbum depois de algumas contribuições pontuais no indefinido disco “Everyday Life”, de 2019.
“My Universe”, dueto com o BTS lançado como single, deu certo, chegou ao topo das paradas e tem um refrão pronto para ser entoado em estádios na futura turnê mundial do Coldplay -que passará pelo Rock in Rio 2022, no dia 10 de setembro do ano que vem, inclusive.
A melancólica “Let Somebody Go” -com a excelente participação de Selena Gomez- e a romântica “Biutyful”, cujo trunfo é o refrão cantado por uma voz tão carregada de Auto-Tune como se tivesse saído de um disco de Kanye West, são boas alternativas da banda ao marasmo do pop gringo. “Humankind” e “Human Heart”, por sua vez, soam repetitivas, embora tenham alguma importância na narrativa do disco.
O erro do Coldplay está, sobretudo, em insistir em soar “alternativo” com a roupagem atual. É o que impede o álbum de brilhar mais. Há muito conceito para pouca música realmente boa.
As duas inexplicáveis intervenções -uma introdução e um interlúdio, ambos curtos e instrumentais- e uma desnecessária viagem psicodélica em “Infinity Sign”, com os cantos “olé, olé, olé” entoados por torcidas em estádios de futebol sobre uma base eletrônica e vocais espaçados ao fundo, são exemplos da grandiloquência equivocada.
“People of the Pride” é um pastiche do que faz o Muse há anos, de vocais melódicos e guitarra musculosa e parece descolado da proposta do álbum. Já “Coloratura” é ótima, densa, espacial e adoravelmente pretensiosa, mas, com mais de dez minutos de duração, ela fatalmente será um lado B ignorado pela massa consumidora de hinos rápidos e pueris.
Exatamente como aquela tatuagem que foi moda e virou brega, “Music of the Spheres” funciona melhor quando o Coldplay assume o lado kitsch e deixa de se envergonhar da própria ambição pop. É melhor ostentar o símbolo do infinito e o “carpe diem” e se divertir com isso do que tentar esconder.
Fonte: FolhaPress/Pedro Antunes