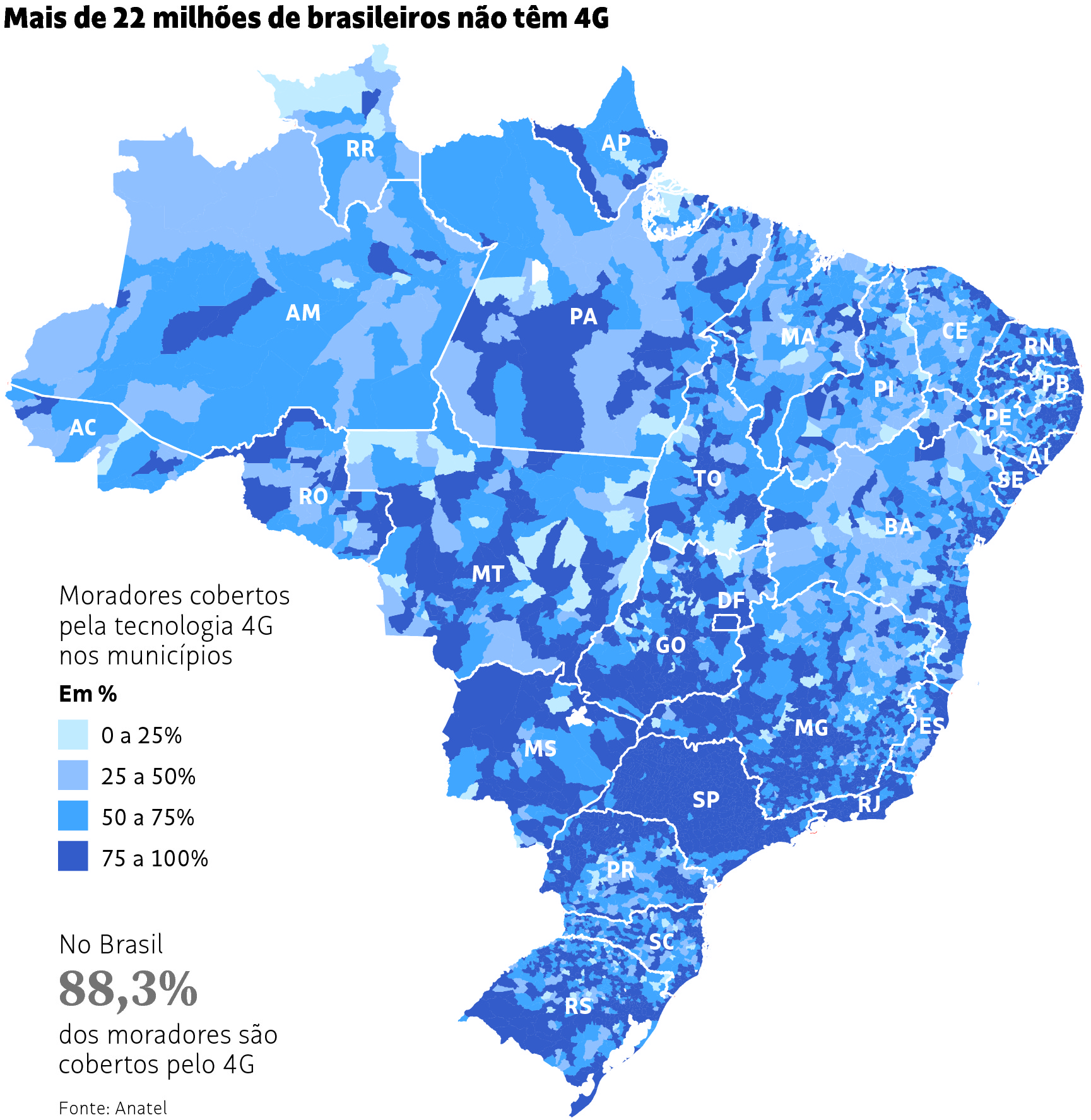O cerne da narrativa de “Pollyanna”, da americana Eleanor H. Porter, publicada em 1913, é a forma de a personagem-título lidar com as pancadas da vida. Enquanto seu mundo desmorona, a menina pratica o chamado “jogo do contente”, de sempre olhar o lado positivo das intempéries. Queria uma boneca de Natal, ganhou muletas e ficou feliz por não precisar delas. Ela se viu paralisada, mas ficou contente por ter amigos para a acudir. Não seria exagero definir Jeremy Scott, de 46 anos, como uma espécie de Pollyanna da moda.
As criações do estilista da grife italiana Moschino, que talvez seja a mais festiva e festejada pelas popstars da moda americana, costumam soar como pílulas de antidepressivo para tempos sombrios. E faz isso há 12 anos, antes dos termos “escapismo” e “otimismo” voltarem a dominar o vocabulário das passarelas neste século.
Quando a crise financeira de 2008 eclodiu e os Estados Unidos foram obrigados a descer do salto, ele propôs tênis com asas, numa colaboração com a Adidas que levou os velhos “sneakers” de volta ao posto de objetos de desejo e detonou o estilo “street” perpetuado ainda hoje.
Quando a música pop brochou, ele se juntou a Lady Gaga e ajudou a fundar o absurdismo pop em looks como o macacão amarelo de Mickey Mouse de “Paparazzi” e a oncinha de “Telephone” – só vírgulas de uma extensa lista de figurinos como o infantil de Katy Perry, o camuflado de Madonna, o pin-up de Rihanna e o pirulitado de Miley Cyrus.
Mesmo nesta pandemia que o enclausurou com o namorado, o top tcheco Denek Kania, na mansão em que vivem em Hollywood Hills, na Califórnia, o “designer do povo”, como Scott é batizado no documentário homônimo sobre sua vida, espalhou Prozac pelas araras.
Seu foco agora é o Brasil, numa coleção desenhada para a varejista Riachuelo que levará a assinatura da grife da qual é diretor criativo, a italiana Moschino, na esteira do sucesso que foi a colaboração com a rede sueca H&M, em 2018.
As peças que chegam neste mês, entre uma jaqueta de poliuretano de R$ 600 e um caderno de R$ 50 – esta a pílula mais barata ofertada pela rede –, quer arrancar dos brasileiros o sorriso que ele diz a este repórter, por telefone, ser sua missão.
“Sempre acreditei que o melhor presente que eu poderia dar é um sorriso na cara de alguém. Se elas assistem a meu desfile e põem um sorriso no rosto, missão cumprida. Se elas olham um post no Instagram e sorriem, missão cumprida. Se alguém vê uma pessoa usando uma roupa minha e sorri, compartilhando esse sorriso, dividindo o humor, espalhando a energia que entra no nosso cérebro nos fazendo sentir melhor, missão cumprida”, ele afirma.
Se, por um lado, essa terapia do riso possa provocar sorrisos irônicos da casta monocromática da moda e de uma parcela considerável do mundo que não vê motivos para sorrir na maior crise sanitária em um século, não seria inteligente classificar as intenções do designer como ingênuas. O jogo do contente empreendido por ele é uma das estratégias mais lucrativos da cultura pop, aquela à qual a mídia especializada logo adjetivou de “fun” – ou diversão.
Botar o Pernalonga com uma cabeça de frutas ao estilo Carmen Miranda, ícone pop da cultura brasileira no imaginário americano que inspira o estilista nesta coleção, ou o Pintinho com saída de banho e chinelos impresso nos moletons bem modelados da Moschino ativaria a nostalgia inconsciente de uma geração pressionada por um futuro incerto. É claro, no entanto, que num universo asseado e pouco afeito a imagens fora do padrão como é o da alta moda, signos assim podem ser mal interpretados.
“O uso do humor nem sempre é bem entendido e muitas pessoas não sabem lidar com ele. Pelo lado da moda, as pessoas não têm certeza se você está zombando delas ou zombando da própria moda. Se uma roupa é preta, muitos pensam ‘deve ser algo inteligente’, mas, quer saber, é preciso muita inteligência para usar o humor de forma correta e não se pode subestimar quem o usa”, diz Scott.
Ele tem alguma razão. Logo que assumiu a Moschino, em 2013, o estilista potencializou a alcunha de designer mais irreverente da moda creditada ao fundador da marca, Franco Moschino, morto em 1994, e fez o império faturar dez vezes mais no primeiro ano de trabalho. O impulso veio de um ursinho de pelúcia.
O animalzinho fofo vestido com uma camiseta na qual se lia “isso não é um brinquedo Moschino” virou camiseta, vestido, acessório e chegou à commodity mais barata da indústria, as capinhas de celular. Por dois anos, nas semanas de moda ou nas contas de Instagram das “it girls”, era quase impossível não esbarrar em alguma fashionista orgulhosa do tal acessório da temporada.
Mais controversa foi a parceria que ele conduziu com a rede de fast food McDonald’s, que cedeu o “M” sinuoso da marca para Scott imprimir em looks de alta-costura. A ironia intrincada na roupa logo virou hit, mais uma vez passando por todas as castas abastadas, das que podem pagar cinco dígitos de euros numa roupa ou da maioria que só teve como comprar um case de smartphone em formato de batata frita.
A empreitada no ramo do fast food vestível, embebida de desenhos em 2D, recebeu nomes como o sugestivo “junk food couture”, um resumo da ira dos conservadores, dos risos animados da juventude e de um tom ácido para o consumismo da indústria da qual ele e todas as grifes fazem parte. Claro, muita gente não entendeu.
“Mas acho que hoje o sistema tem mais compreensão sobre o meu trabalho. Há mais pessoas, e mesmo outros designers, que começaram a usar linguagem semelhante à minha. Acho que sempre fui o rei dos ‘cartoons’, e agora é estranho ver marcas de moda muito sofisticadas aderindo a isso.”
Como que para firmar território num sistema que se apropria e se reapropria de ideias para as vender como novidades, Scott lembra que, antes dele, “não era muito comum ter alta-costura misturada a roupas esportivas, hoje onipresentes”. “E toda marca faz tênis e, às vezes, um agasalho ou algum tipo de moletom, quando antes [das coleções para a Adidas] isso não era nem uma opção.”
Coincidência ou não, dias depois da entrevista, uma das grifes mais elitistas da alta-costura, a Balenciaga, transformou seu desfile na semana de moda de Paris, neste mês, num episódio especial de “Os Simpsons”, com personagens zombando do estilo de vida americano e desfilando looks da coleção.
Na visão de Scott, o uso da iconografia, para fazer sentido, não pode ser aplicado com signos reconhecidos apenas num país, precisam ser autoexplicativos, como a versão romantizada –e algo caricata, é verdade– de Carmen Miranda e as bananas impressas na coleção idealizada para o Brasil.
“Ela sempre parece feliz e enérgica, como um desenho animado. Acho que todos os ícones se tornam cartoons em alguma medida, como se seu estilo fosse tão reconhecido que a imagem perdura para além da vida real. E, você sabe, adoro iconografia, até uma placa de ‘pare'”, diz, citando uma série de looks com sinais de trânsito divertidos aplicados em algumas de suas criações do passado recente.
A overdose de serotonina vendida em série pretendida por esse estilista é acompanhada por um dos momentos em que mais se questiona o padrão de vendas da indústria. Ficará marcada pelas próximas temporadas a imagem da ativista que invadiu o desfile da Louis Vuitton no Museu do Louvre, nesta semana de moda de Paris, empunhando um cartaz com os dizeres “overconsumption = extinction” –ou, superconsumismo é igual à extinção.
O discurso consciente integra as rodas de discussão do alto comando fashion em medidas diferentes. No caso da Moschino, por exemplo, Scott aboliu de vez o uso de peles de animal assim que chegou -nenhum urso, vison ou coelho foi morto para produzir os casacos felpudos que enchem os guarda-roupas da elite compradora da marca.
Por outro lado, ela e seu estilista são dos mais atuantes na exploração de parcerias para produção de artigos que vão de carrinhos de bebê, como os que ele assinou para a marca chinesa Cybex, a blusinhas tais quais serão vendidas por aqui.
A dicotomia é antiga. Seria justo impedir alguém de consumir um produto que considere bonito, assinado por um estilista de que goste, porque ele não poderia pagar o preço? Em contrapartida, é justo que por um desejo individual perpetue um método de produção linear que mina os recursos do planeta? Efeitos colaterais são comuns para quem administra a moda como cura psíquica.
O fato é que nesse processo químico e elétrico envolvido na compra, Scott tem seus truques. As últimas duas coleções desfiladas pela Moschino, em fevereiro, virtualmente, e no mês passado durante a semana de moda de Nova York, oferecem memórias coletivas sobre a infância para uma audiência cansada do noticiário pesado.
Quando ninguém podia se tocar, ele reproduziu em vídeo um desfile de marionetes, nos quais convidados famosos foram esculpidos em porcelana, e as roupas eram desfiladas em bonecas, “porque naquele momento havia marcas fazendo desfiles ao vivo e queria lembrar que o contato possível era apenas aquele, imaginário, no plano fictício”.
Na última apresentação, presencial, modelos desfilaram vestidos, tailleurs e roupas casuais que reinterpretam os guarda-roupas de bebê. Cores adocicadas, formatos mini e uma série de acessórios feitos com alfinetes gigantes tomaram a passarela fofinha para o regozijo do pop.
“Resgato esse tempo quando éramos cuidados, que não tínhamos todos esses problemas da vida adulta, quando nem tínhamos de pensar sobre eles porque tínhamos o conforto de um brinquedo de pelúcia, o conforto de uma canção de ninar, das cores pastel. Para mim, é algo como um abraço visual, uma lembrança de tudo o que é bom e puro no mundo”, divaga Scott.
A equação está ligada ao momento de saída da pandemia, do estado de letargia de estilo que enfiou todos em trajes casuais sem nenhuma emoção porque “é compreensível, as pessoas não sentiam que precisavam se expressar por meio da moda em suas casas”. “Agora, que as coisas estão reabrindo, percebemos o quanto sentimos falta dessa conexão como humanos e como isso é importante para nossa experiência humana.”
Sem cair em contradição sobre o próprio legado, Scott arrisca prever, não sem uma dose de polianismo, é verdade, a nova primavera da moda. “Virá uma onda muito forte de expressão, forte, forte. Falo sobre esse sentido de se divertir com as roupas, porque fomos privados muito tempo dele e só percebemos sua importância quando tudo foi tirado de nós.”
Fonte: FolhaPress/Pedro Diniz