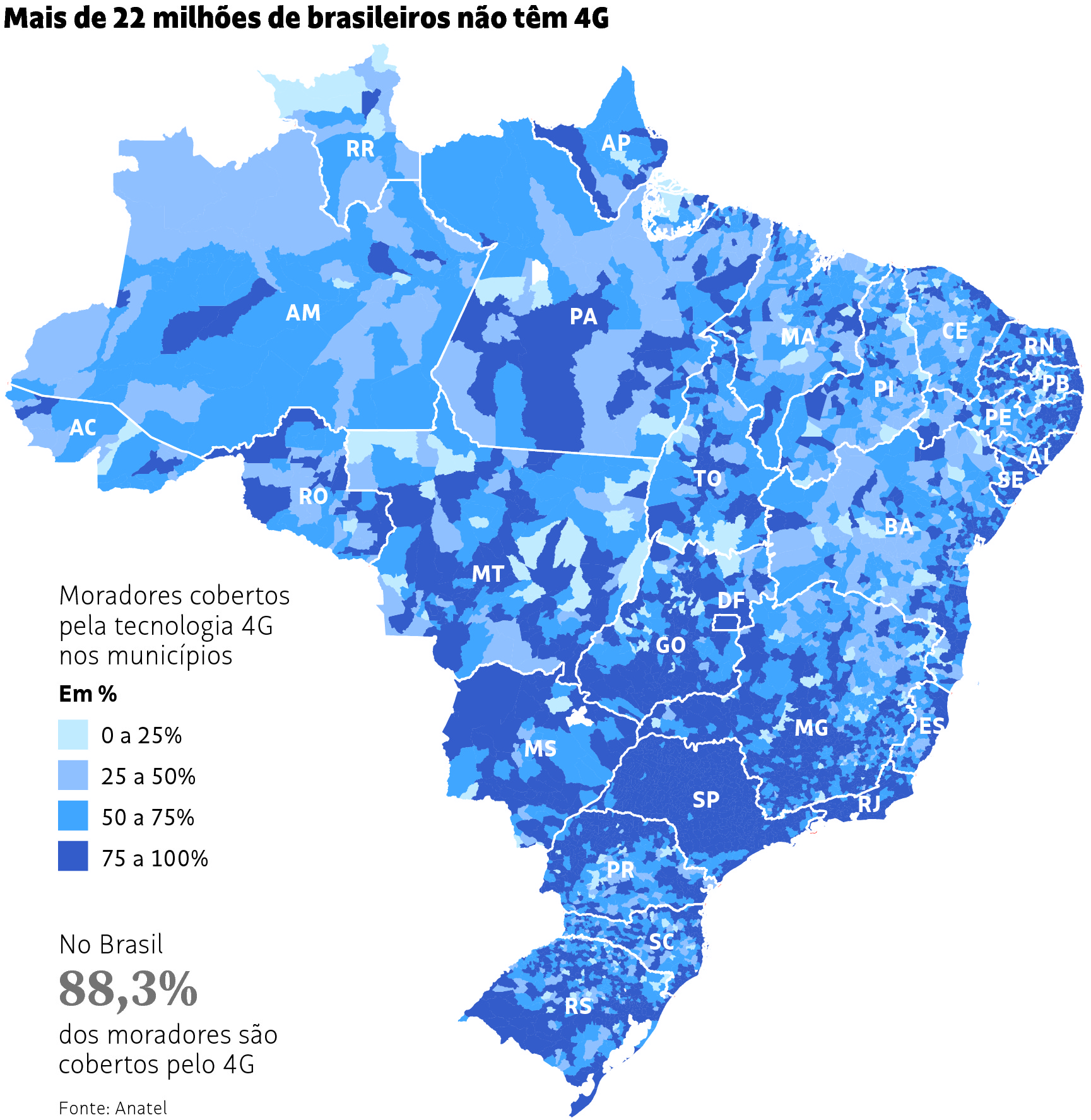Nesta sexta-feira (6), a Jamaica completa seus 59 anos de independência. Mas, neste ano, as comemorações vão ser diferentes. “A maior parte da Jamaica está mais ou menos em lockdown. Não sei como vão ser as comemorações”, diz Jimmy Cliff, um dos grandes nomes da cultura do país.
Os dois temas –a independência e a Covid-19– estão presentes em “Human Touch”, o novo single do cantor, primeiro de um álbum que ele pretende lançar no ano que vem. É uma canção de amor e de celebração, mas também de esperança, clamando pela volta do contato humano depois dos tempos de isolamento.
“Somos um país que não tem a própria vacina e, considerando isso, estamos até indo bem”, ele diz, sobre o controle do vírus no país. “Para mim não fez muita diferença. Continuei fazendo o que gosto, que é compor, nadar, caminhar. Ficar em casa não me incomoda.”
Jimmy Cliff é uma lenda viva. Aos 77 anos, conta histórias com a mesma facilidade que atinge agudos únicos com sua voz de tenor e prepara o retorno depois de um hiato de quase dez anos sem lançar disco. O último deles é o elogiado “Rebirth”, de 2012, que tem produção de Tim Armstrong, do Rancid, e venceu até Grammy.
Naquele álbum, Cliff conversava com a linha evolutiva da música jamaicana a partir dos anos 1950, do ska ao reggae, uma evolução que ele viveu de perto –e como protagonista. Essa música, diz, reflete o próprio processo de independência da Jamaica.
“A música na época era o ska, que expressava o espírito das pessoas, que estavam animadas. Tipo ‘olha, somos independentes’. Depois daquilo, a música ficou mais lenta, o rocksteady. Era assim ‘que independência é essa?’. Não somos independentes! Nada melhorou.”
Foi quando veio o reggae -Cliff, inclusive, foi quem fez a primeira audição de Bob Marley em estúdio. “Começamos a buscar algo que nos tornasse independentes. Olhamos para a África. E aí veio o reggae, uma música entre o rocksteady e o ska. E junto veio o rastafari, que é da cultura indígena jamaicana.”
Segundo Cliff, a Jamaica evoluiu bastante –tem grandes artistas, intelectuais e atletas. Também produz grande parte da própria comida. Mas não é totalmente independente. “Para isso, você precisa falar a própria língua. Você está no Brasil e fala português, que é de Portugal. Falamos inglês, de um país chamado Inglaterra. A língua une as pessoas, e é a coisa mais importante para mim.”
Em termos de música, a Jamaica tem contribuído de maneira fundamental. O hip-hop, que hoje tem uma das músicas mais ouvidas ao redor do mundo, tem como um de seus fundadores o DJ Kool Herc –jamaicano que levou consigo a cultura dos sound systems quando se mudou para Nova York.
“O hip-hop tem raízes na música jamaicana. Chamávamos [os raps] de toasting e de DJs as pessoas nos sound systems. Então, isso foi até os Estados Unidos e eles disseram ‘o que é isso?’ e pegaram para eles. Fizeram aquilo no ambiente próprio deles e chamaram de hip-hop.”
E a influência do hip-hop, como uso de samples e batidas eletrônicas, está circunscrita em grande parte da música pop atual. “Se você olhar a música mainstream hoje, o hip-hop, o reggaeton, isso tudo tem raízes na Jamaica. A música mainstream internacional –tirando, por exemplo, o Brasil, que tem uma música própria–, olhando para Estados Unidos e Europa, mesmo falando de rock, tudo tem raiz na Jamaica.”
Para entender como uma ilha tão pequena pode ser tão influente numa área, ele lembra as características do próprio povo. “Foi um país em que os escravos se rebelaram contra os opressores. É o espírito de ‘você sabe quem eu sou?’. ‘Não vou abaixar a cabeça para você’. Sempre tivemos isso. A Inglaterra teve que nos dar um pedaço de terra, porque não podiam nos controlar. A música sai desse espírito. Mesmo pequenos, influenciamos o mundo.”
Mas Cliff também foi muito influenciado pelo Brasil. Veio ao país em 1968 para cantar no Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro. Ia ficar duas semanas, mas acabou ficando por quatro meses e ainda lançou o disco “Jimmy Cliff in Brazil”.
“Foi um momento de virada não só na minha carreira, mas na minha vida. Tinha ido à Inglaterra em 1965 cheio de ambições. Ia ser maior que Beatles e Stones. Mas não aconteceu. Quando veio a oportunidade de tocar no Brasil, fui na hora. Tinha ouvido que não existia preconceito no Brasil –e quando cheguei aí descobri que era mentira.”
Na época, Cliff era um desconhecido no mundo da música, mas lembra que o Maracanãzinho veio abaixo quando ele cantou –experiência que inspirou a canção “Wonderful World, Beautiful People”. Outra música que fez inspirado no Brasil foi “Many Rivers to Cross”, mas por outra razão.
“É um país lindo, tudo é bonito, mas existe um segredo por debaixo disso. Os pretos não lutavam contra as pessoas que os oprimiam. Eu entrava no banco e não via uma pessoa negra. Era opressor de tantas maneiras que eu não conseguia entender como eles não se revoltavam.”
Além das turnês e das colaborações com artistas brasileiros, o cantor morou um período em Salvador, quando gravou músicas com o Olodum –antes de Michael Jackson e Paul Simon– e Margareth Menezes, há 30 anos.
Ele rasga elogios à nossa música. “Vocês fazem músicas com muitos acordes e ainda assim ela soa simples”, diz. “Quando ouvi a batucada do samba na Bahia, enlouqueci. Queria aquilo para mim.”
Amigo de Gilberto Gil, Cliff lamenta que estão há um tempo sem se falar, mas dá risada quando lembrado de um show que fez com o brasileiro no Recife, em 1980. Segundo o Diário de Pernambuco, a dupla foi alvo de inquérito policial, por apologia de crime, quando cantaram uma versão de “Legalize It”, de Peter Tosh. Era o auge do reggae, e boa parte do público de 20 mil pessoas aproveitou o momento para acender um cigarro de maconha.
“Todos os artistas do reggae são tachados de maconheiros, assim como os roqueiros com cocaína, os de blues com álcool. Não me surpreende. Mas tudo bem, veja só, agora é até legalizado! Peter Tosh ficaria muito feliz. Nós previmos!”
Ele não fuma mais maconha, mas é a favor da legalização. “Claro, porque não faz mais mal que o álcool -na verdade, o álcool é mais perigoso. Mas, ainda assim, sobre fumar em geral, acho que a pessoa deveria zelar pelo templo que é o seu corpo, o manter limpo. Uma boa mente precisa de um bom corpo para funcionar.”
Preparando o novo álbum, Cliff acredita que ainda tem muito a fazer. Por exemplo, ele diz, nunca ganhou um Oscar, embora em diversos lugares do mundo seja mais conhecido pela atuação no filme “Balada Sangrenta”, de 1972, do que como cantor.
Com exceção do Brasil –onde foi trilha de diversas novelas– e países da África, Cliff diz “sou um artista de festival, às vezes de teatro”. “Mas o objetivo é tocar em arenas e estádios. Quero conseguir no mundo inteiro.”
Ele também tem mais um objetivo. Quer escrever dois livros -uma autobiografia, provavelmente cheia de histórias do Brasil, e outro volume sobre a história do reggae, dando luz a personagens menos conhecidos, como o influente engenheiro de som King Tubby. “As pessoas veem os artistas, mas não veem os transformadores, que são os músicos, os engenheiros. Não conhecem quem criou a música daqueles artistas. Vai ser a história verdadeira do reggae, porque eu sou qualificado para contar, estava lá desde o começo, desde quando ainda se chamava ska.”
Fonte: FolhaPress/Lucas Breda