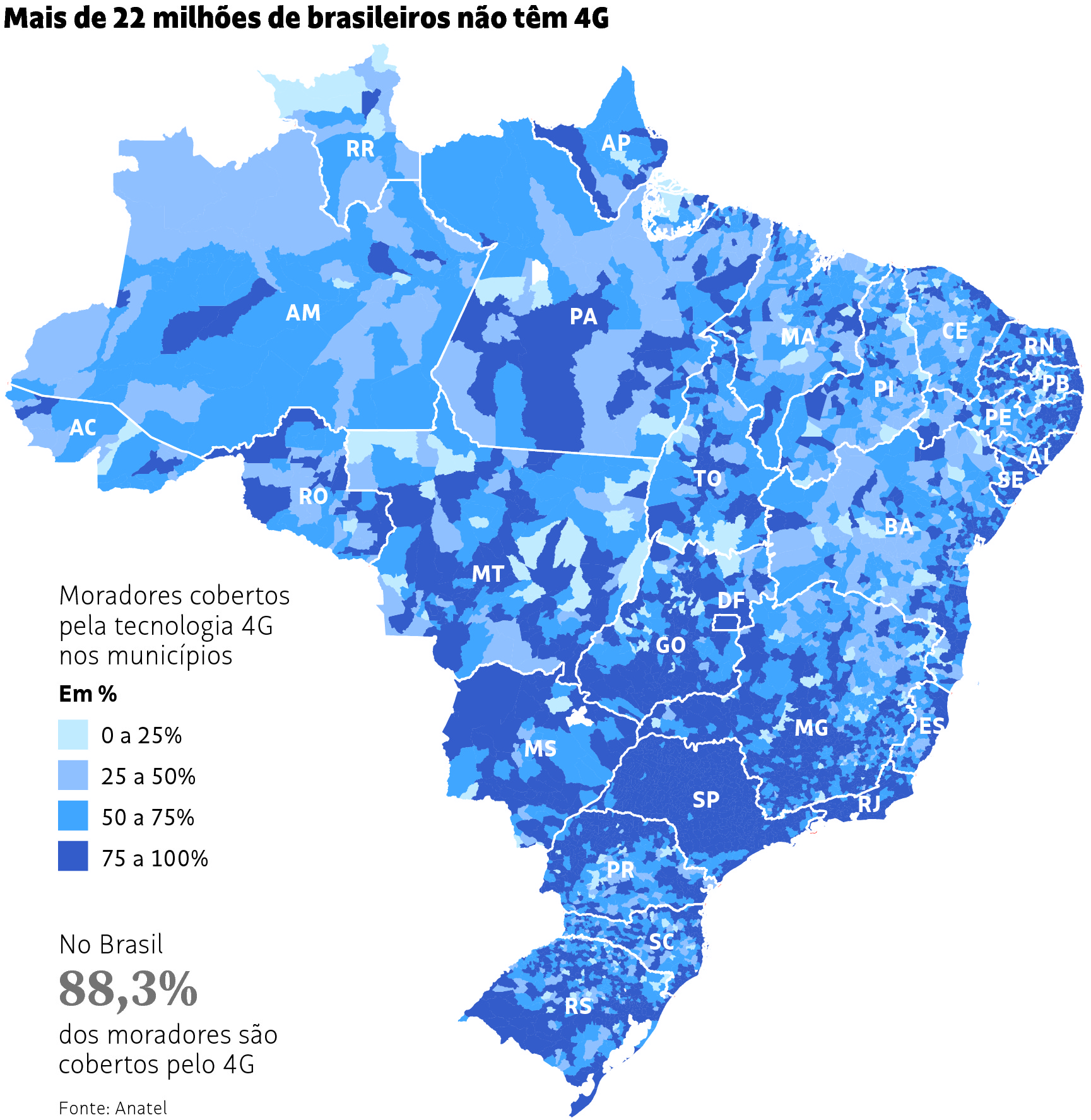CAROLINA MORAES
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A célebre ideia de Karl Marx de que a história acontece primeiro como tragédia e depois como farsa, publicada em 1852 em “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”, opera em uma leitura de nossa época no novo livro do crítico de arte Hal Foster.
Partindo de uma análise da figura farsesca do ex-presidente americano Donald Trump, “O que Vem Depois da Farsa?”, que chega ao Brasil pela editora Ubu, investiga as trajetórias e crises das instituições culturais, o papel dos curadores e o trabalho de artistas contemporâneos em ensaios escritos entre 2005 e 2020.
Regimes de vigilância, desastre climático, desigualdades de todas as ordens estão no lançamento, que começa com o trauma e a paranoia gerados pelo 11 de Setembro.
“Por mais que Trump politize e radicalize as pessoas da direita, ele faz isso também com a esquerda. Instituições como museus e universidades entraram em crise”, diz Hal Foster em entrevista por videoconferência. “Especialmente porque museus, nos Estados Unidos, são basicamente privados. Eles desenvolveram contradições óbvias entre seu estado de missão pública e determinado interesse privado de financiadores.”
No estado de tensão exacerbado pelo último governo, Trump é descrito por Hal Foster como um “bulshitter”, ou mentiroso contumaz, que não tem preocupação com a verdade, e como um homem que tanto representa a lei como a transgride, recorrendo ao pai primevo de Freud.
Ele é também uma figura popular em meio a um descontentamento com governos anteriores, agitação que encontra paralelo no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro.
Esse contexto, como o próprio crítico admite, parece terrivelmente sombrio –e de fato é. Mas também é nesse período que instituições culturais passam por uma revitalização, ainda que parcial.
Isso, segundo ele, graças a três grandes movimentos –o Occupy Wall Street, que trouxe à tona a plutocracia das organizações, o MeToo, que desencadeou acusações sobre assédio sexual, e o Black Lives Matter, que joga o holofote para o racismo que estrutura diversas organizações sociais, inclusive os museus.
“De um jeito curioso, esse período reacionário reanimou instituições culturais e educacionais, e tornou possível pensar sobre mudança e até agir sobre ela”, avalia Foster.
Ele exemplifica que em Princeton, faculdade americana onde ele leciona, houve uma discussão sobre a figura de Woodrow Wilson, que foi presidente da universidade antes de assumir a presidência dos Estados Unidos e era racista – isso na esteira dos protestos do Black Lives Matter.
“São instituições [educacionais] muito abastadas, mas muito dessa riqueza está ligada a histórias sombrias, e essa é a natureza do capitalismo”, diz Foster.
“Em museus, obviamente isso envolve colonialismo, imperialismo. O que fazer com objetos que são roubados? Muitos anos atrás, eles não se pronunciavam sobre a restituição de objetos do museu tão livremente, e, certamente, em termos de escravidão, este país não se pronunciava sobre apropriações aos descendentes de escravos, e agora isso é discutido abertamente.”
As respostas à situação extrema da era Trump e os caminhos que a cultura pode trilhar também estão nos trabalhos dos artistas que Hal Foster analisa em seus ensaios.
O autor de “O Retorno do Real” afirma que entre os nomes que mais interessam a ele estão artistas negros como Kara Walker, que investiga e retrata o passado escravocrata dos Estados Unidos com silhuetas provocativas, e Kerry James Marshall, cujo trabalho é abordado no livro.
“O projeto de Marshall, há anos, é criar espaço para figuras negras em pinturas e as representar não como figuras inferiores, escravos, ou servos, mas como protagonistas, e também as receber dentro do espaço de galerias e museus”, afirma o crítico.
Os retratos do artista americano mostram com frequência a vida cotidiana, como em “School of Beauty, School of Culture”, em que mulheres e crianças aparecem numa barbearia, e em “Underpainting”, em que o museu aparece tomado pelo público e como um espaço de aprendizagem.
“Existem, é claro, dores reais em aspectos da cultura afro-americana, e isso é muito importante. Mas Marshall insiste também na alegria da vida negra”, afirma. “Isso não é para dizer que ele é ingênuo, é só que ele quer representar a beleza da vida negra. Então, se vidas negras importam, logo vidas negras são lindas.”
Outros artistas contemporâneos que aparecem no livro de Foster se debruçam em questões como vigilância e tecnologia, caso de Trevor Paglen, que retrata operações militares clandestinas e sistemas de vigilância em áreas de difícil acesso.
O crítico de arte também recorre à etimologia de sua ideia central para refletir sobre as mudanças em curso. Farsa era, originalmente, um interlúdio cômico em um peça religiosa, ou seja, um momento intermediário.
“Nessa crise, há espaços para debate que precisam de revisão crítica, sobre histórias que se revelaram, é isso que eu quero dizer com ‘debacle'”, diz Foster sobre o termo que deriva do francês e ao qual ele também recorre para dar contornos a um tempo caótico.
O sentido literal da palavra é “quebrar o gelo em um rio”, algo que se refere à uma súbita liberação de força “em geral para o mal, mas às vezes para o bem”, escreve o crítico. Nesse tempo de debacle, portanto, há uma chance de transformar a “emergência disruptiva em mudança estrutural”.
Segundo Foster, um resultado dos três movimentos sociais que têm forçado a mudança de instituições culturais em vários níveis –dos acervos à chefia de museus– é uma volta desses espaços como locais de resgate da esfera pública.
“Nessa desordem, novos pensamentos podem ser achados, novas vozes podem ser ouvidas, e acho que já começamos a ver o que acontece nas ruas, em locais de educação e de cultura. São neles, na verdade, que a arte e a cultura se encaminham”, afirma.
Ou, como ele escreve, “no mínimo, um interlúdio sugere que outro tempo chegará”.