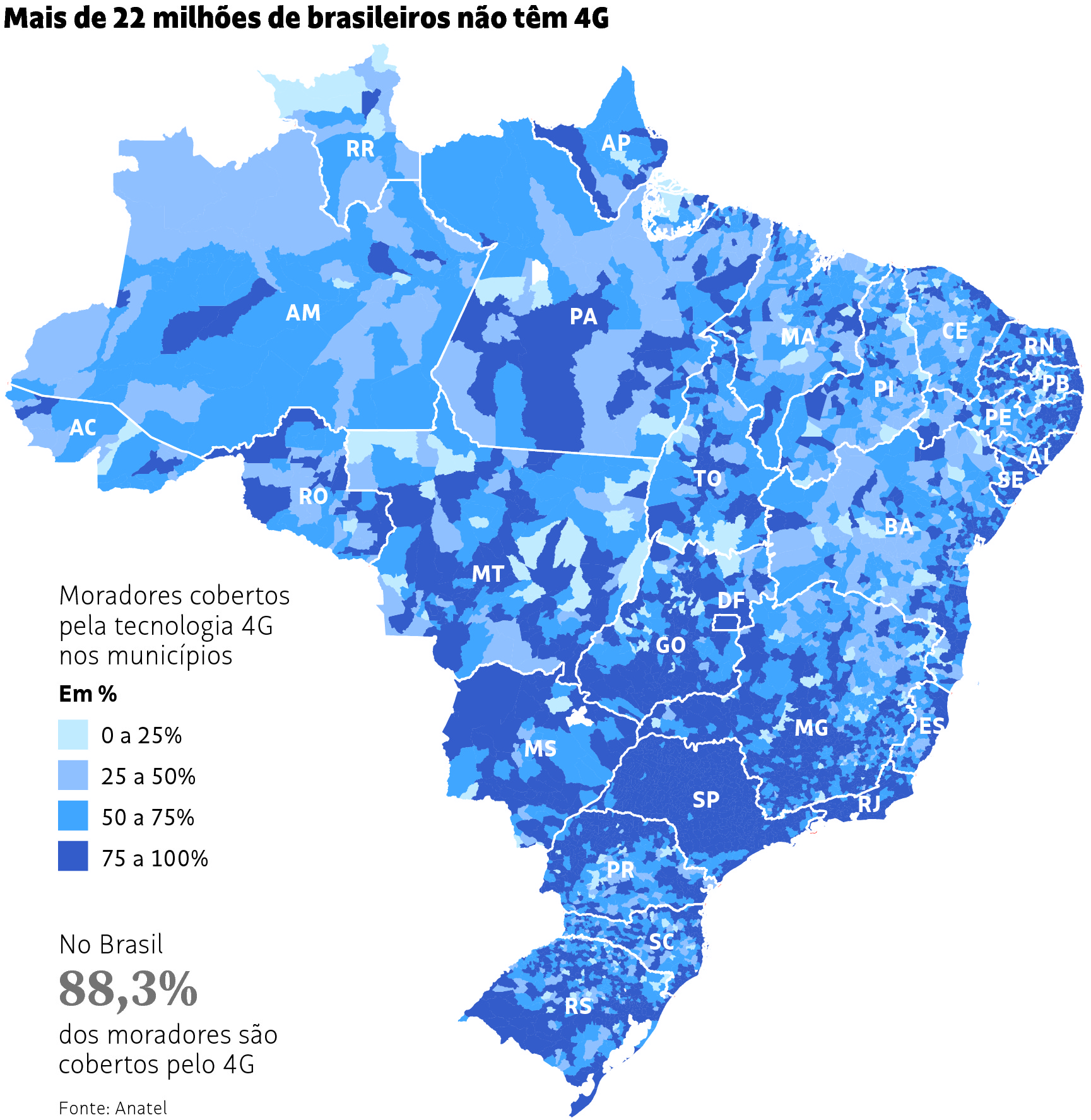SILAS MARTÍ
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma voz na entrada dá as medidas – são 1.680 metros, 37 minutos de caminhada a passos de 50 centímetros. A artista portuguesa Luisa Cunha repete num alto-falante o cálculo em espaço físico de seu trajeto pelo pavilhão vazio, o monumento de Oscar Niemeyer no parque Ibirapuera.
Suas palavras ao vento nos fundem ao aqui e agora. É de espaço e vida concreta que ela fala. E o cenário é a vastidão de cimento e vidro rasgando o verde às margens da avenida lá fora, o cinza paulistano.
Outras vozes, essas de índios numa floresta distante gravadas pela belga Jacqueline Nova, ecoam perto dali. Mais adiante, os assobios de outra tribo, que lembram pássaros voando dentro do pavilhão, violam o silêncio na obra da colombiana Gala Porras-Kim.
Tudo em “Vento”, a exposição organizada por Jacopo Crivelli Visconti e Paulo Miyada que serve de prévia à Bienal de São Paulo adiada pela pandemia, é uma presença quase invisível. O nome já diz que estamos diante do diáfano, a sensação da brisa que sopra, e não de objetos de peso.
No filme da americana Joan Jonas, âncora conceitual da mostra, vemos bailarinos numa praia gélida e deserta lutar contra um vendaval. As rajadas de ar bloqueiam ao mesmo tempo que moldam a sua coreografia – o corpo encara o frio num figurino cheio de espelhos que multiplicam inúteis a palidez do sol.
Mas é o rastro da violência que se manifesta. Perto dali, um monte de farinha cobre o chão – é o que sobrou da performance de Paulo Nazareth em que homens esfaqueiam um saco de pano, deixando cair o pó branco até que uma mulher venha varrer tudo na tentativa de conter o caos.
O pó é branco, os homens e a mulher, negros. Toda a mostra, aliás, se desenrola em contrastes absolutos, com trabalhos que opõem o preto ao branco, a noite ao dia, o ruído ao silêncio, a sombra à luz.
Nazareth, é nítido, usa a ponta da faca para tocar no racismo de todo dia. Mas o branco ali e a forma como o pó se junta num círculo seriam também ataques à alvura monumental dos palácios de Niemeyer, a expressão do modernismo como falsa promessa de futuro, a ordem imposta pela austeridade da forma.
Os enormes vazios entre os trabalhos revelam ao mesmo tempo a beleza do pavilhão e o ar sinistro de seus contornos, a arquitetura que arrebata mas esmaga a escala humana. Somos quase nada nesse vendaval esbranquiçado.
E as certezas então são postas à prova. Tudo é ilusão – as manchas pretas abstratas nas telas de Regina Silveira são os vultos distorcidos de políticos de terno, um tanque de guerra a adentrar a avenida.
Clara Ianni empilha bloquinhos de madeira sobre retroprojetores que espalham pelas paredes uma visão desfocada do paliteiro infernal de arranha-céus que é São Paulo ou talvez uma visão dos ministérios de Brasília em desarranjo.
Nas cartografias siderais de Antonio Dias, a palavra “illusion” surge em letras brancas como estrelas no espaço de noite eterna. É sua “arte negativa para um país negativo”.
Outra obra de Nazareth, a pequena silhueta de papel do atleta negro Tommie Smith a erguer o punho no pódio dos Jogos do México, desafia o esplendor moderno. É o antimonumento virando pó no mais branco dos monumentos.
O ano do gesto do campeão –1968– foi o mesmo em que o argentino León Ferrari inventou um diálogo entre Deus, o presidente americano e o papa enquanto as bombas caíam sobre o Vietnã. Numa tela branca, as falas dos personagens tocam junto de seus nomes, em preto e fonte sem serifa. O que evocaria certa neutralidade aqui só escancara a implosão das utopias.
Sua visão depurada e despudorada dessa Babel aos berros tem ao lado o silêncio. Frente a frente, alto-falantes da artista japonesa Yuko Mohri sussurram “não posso ouvir você”.
Essas vozes se encontrariam em algum ponto no meio do caminho, onde fariam contato. Elas flutuam como presença incômoda, o fantasma de outro grito reduzido a nada, o “não posso respirar” que se tornou o lamento da pandemia, o gemido no vendaval.