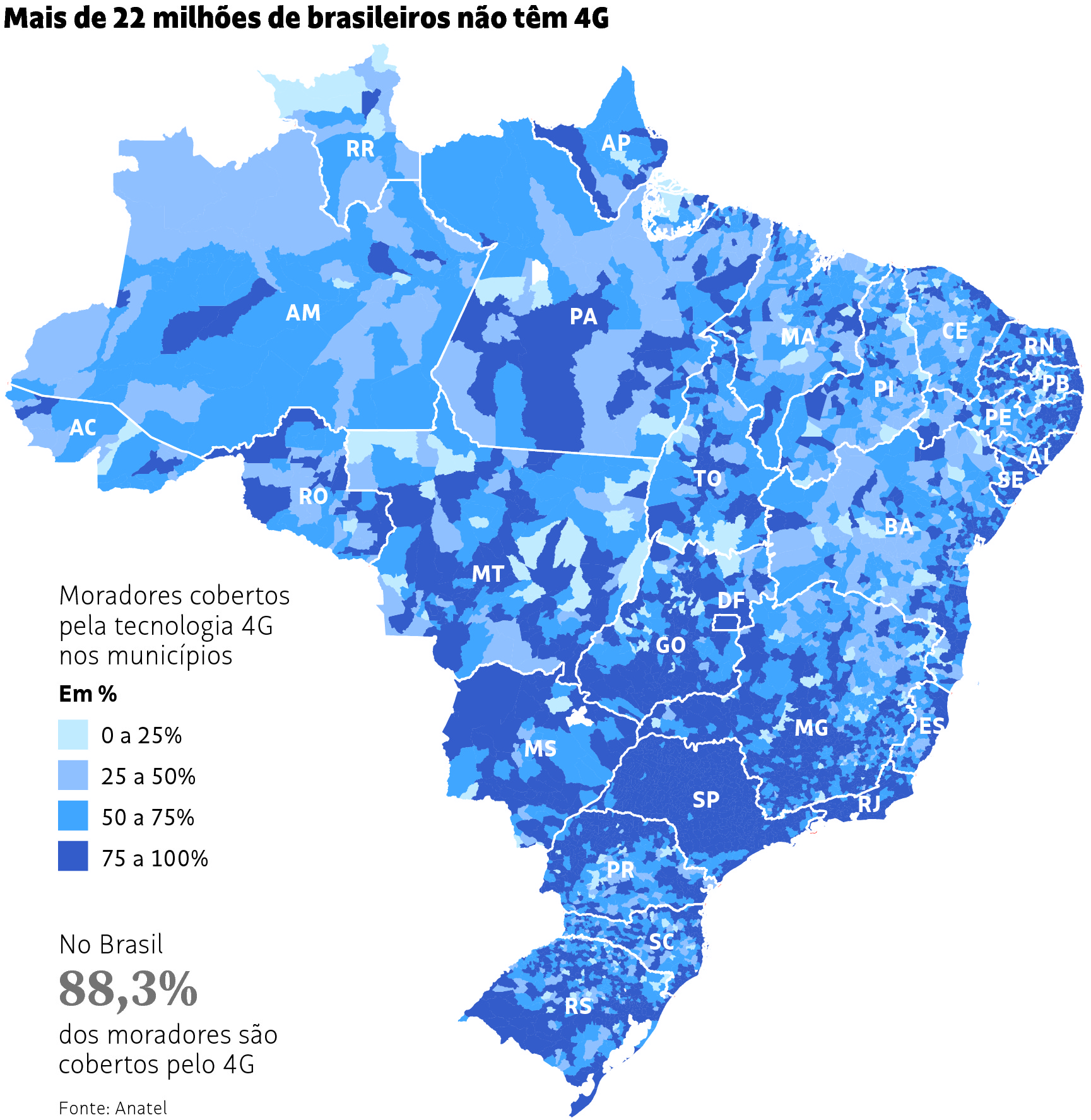CLARA BALBI
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Rostos deformados entalhados em madeira, espelhos partidos, remendados com fios de arame, totens enegrecidos pelo fogo. As obras que o franco-argelino Kader Attia exibe no Sesc Pompeia mais parecem os destroços de uma guerra sangrenta.
Não é pelo calor da batalha que o artista se interessa, no entanto, mas pelo que vem depois dela –o trauma que seus sobreviventes carregam. Daí o conceito central de seu trabalho, o da reparação.
Mesmo que ela seja impossível em última instância, reconhece o artista. “Quando se fala da escravidão, do Holocausto, de todos esses grandes crimes, não podemos ressuscitar esses corpos. Mas seus fantasmas ainda assombram a psique da sociedade.”
Chegando aos 50 anos de idade, filho de pai argelino e mãe berbere, Attia é um dos artistas franceses mais reconhecidos da sua geração. Vencedor do prestigioso prêmio Marcel Duchamp, já participou de mostras como a Bienal de Veneza e a Documenta, em Kassel, na Alemanha.
Esta é a sua a primeira exposição solo no Brasil – embora tenha viajado bastante pela América Latina quando jovem, ele nunca veio ao país.
Foi numa dessas viagens da juventude, aliás, que Attia começou a pensar na ideia de reparação. Ele conta que vivia em Brazzaville, no Congo, quando viu uma criança em situação de rua transformar uma latinha em instrumento musical com a ajuda de alguns fios elétricos.
“Fiquei fascinado por essa criatividade da resistência”, diz o artista. E, continua, passou a ver essa atitude em todos os cantos –nos botões que os congoleses pregavam em esculturas de madeira, fazendo as vezes de olhos, nos remendos de xadrez de Vichy costurados sobre os panos de ráfia para disfarçar os rasgos.
“Percebi então que o que muitos teóricos chamavam de reapropriação desses itens ocidentais, modernos, pelos povos colonizados era, na verdade, uma tentativa de reparar algo. E comecei a tecer analogias com essas formas de reparação, pensando que, se elas estão ali, é porque em algum lugar há uma ferida. Trauma e reparação andam juntos, é impossível separar os dois.”
Essas analogias de Attia atravessam vários campos do conhecimento – história, medicina, antropologia, psicologia, biologia. Segundo ele, até a teoria da seleção natural de Darwin poderia ser entendida também como um processo de reparação.
É o que ilustra um dos trabalhos que abre a mostra do Sesc Pompeia, “Mimese como Resistência”. Nele, Attia recorta um trecho de um programa de TV de vida selvagem sobre o pássaro-lira. A ave imita
todos os tipos de sons, dos naturais, como o canto de um predador, àqueles produzidos pelo homem, como o barulho de um obturador de câmera ou de uma motosserra.
A partir dali, a exposição mergulha cada vez mais nas sombras. Na sala seguinte, o visitante se depara com uma série de máscaras e esculturas chamuscadas, uma alusão ao fogo que dizimou a coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro há dois anos.
Ao contrário dos artefatos perdidos naquele incêndio, as peças ali expostas não têm qualquer valor histórico, vendidas a turistas na África, conta Attia. Mas agem como símbolo do que se perdeu.
“Queimar artefatos significa queimar conhecimento. Minha ideia não era encenar o que aconteceu no museu, mas indagar o que podemos fazer diante do que foi destruído”, ele afirma. “Me preocupo com o passado, em especial numa sociedade como a nossa, que só pensa no novo. Precisamos discutir isso para construir o futuro.”
A mostra termina na apoteose de “Eu Acuso”. Nela, os rostos de soldados mutilados na Primeira Guerra Mundial são reproduzidos em bustos de madeira. À frente, uma tela mostra veteranos reais se levantarem entre os mortos numa cena do filme “J’Accuse’, de Abel Gance, de 1938.
Alinhavando esses e outros trabalhos está a obra “Refletindo a Memória”. Parte documentário, parte videoarte, ele mostra entrevistas com médicos, psicanalistas, pesquisadores e historiadores sobre a síndrome do membro fantasma, quando indivíduos que tiveram partes do corpo amputadas continuam a sentir que elas estão presentes. Aos poucos, a condição emerge como uma metáfora para como comunidades lidam com perdas da magnitude de genocídios.
O “refletir” do título da obra não é à toa. Como em outros momentos da exposição, quando aparecem
quebrados em pedacinhos e unidos com arame, ali também Attia faz uso de espelhos.
O artista afirma que o interesse pelo material vem do fato de que ele está profundamente ligado à identidade. E a identidade, ou melhor, a perda dela por causa da globalização, explica alguns dos principais conflitos políticos hoje.
“Os sujeitos mais frágeis sentem que estão perdendo suas referências. O problema é que a reação deles é um desejo de se segregar novamente. É o que se observa entre os supremacistas brancos ou os extremistas religiosos, numa retomada do que eu chamaria de uma obsessão pela pureza”, afirma Attia.
O artista também diz ver na arte, e sobretudo na arte contemporânea, uma das arenas de luta com maior potencial contra esses movimentos.
Mas, para isso, é preciso que a arte abrace a emoção, desprezada pela esquerda e hoje nas mãos “da extrema direita, do fascismo, do populismo”, ele acrescenta.
“Confio na arte porque é um lugar em que, não importa que você goste ou não das obras, não há opção a não ser virar um receptor. É impossível ficar passivo”, diz Attia.
“É isso que chamo de construir um campo comum. Reparar significa ouvir.”