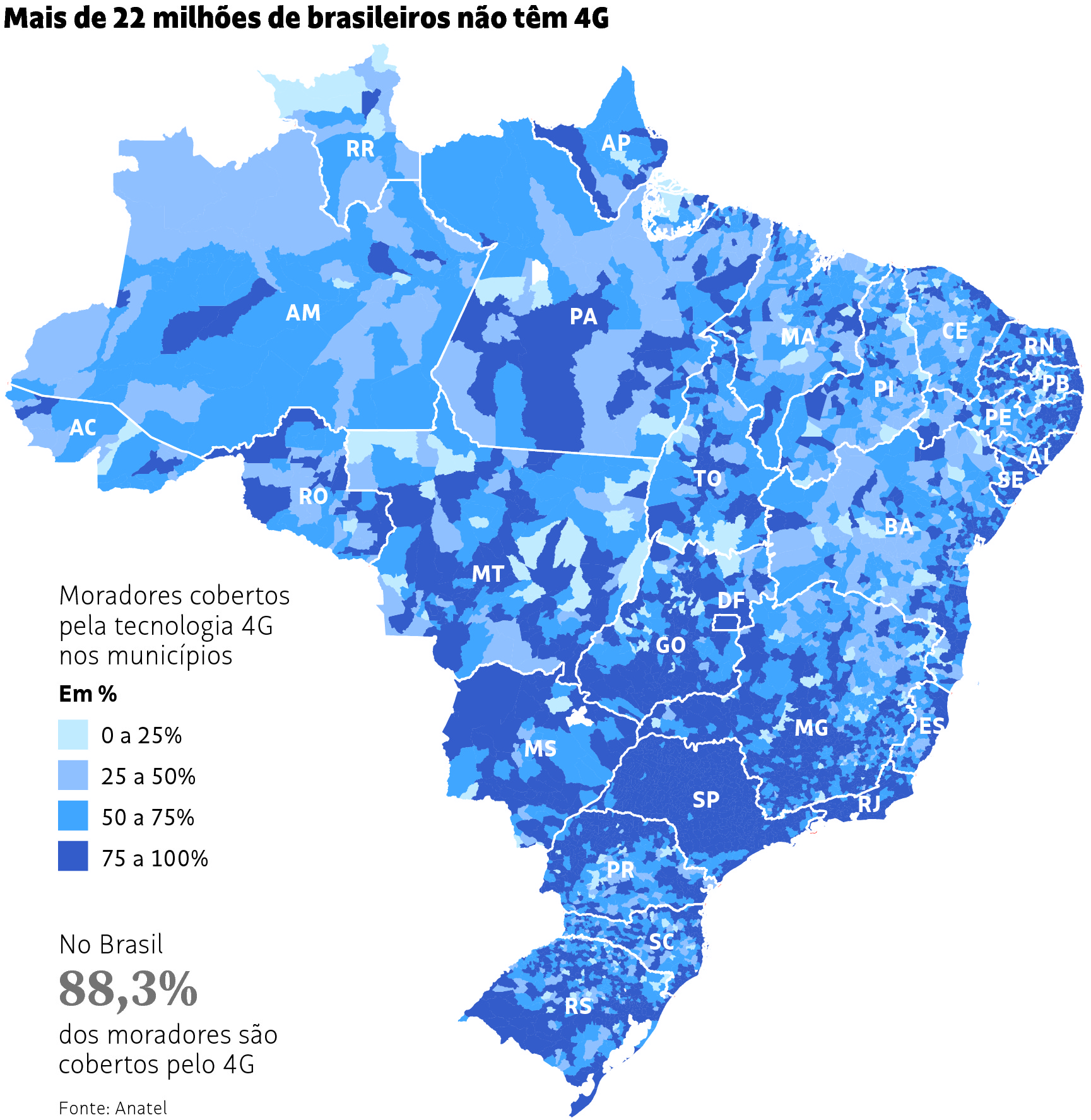SILAS MARTÍ
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A peste matou a noite –ou terminou de matar o que já agonizava. E agora as lembranças de corpos suados atravessados por rajadas de som foram parar, embalsamadas, nas galerias de museu.
Desde março, quando Berlim decretou um lockdown que se repetiu pelo mundo, as portas do Berghain, o clube de techno mais famoso do mundo, estão fechadas. Multidões que faziam fila diante da antiga usina de energia transformada em inferninho cool sumiram, e o lugar vive o mais estranho e solitário silêncio.
Os primeiros ruídos só voltaram agora, mas em nada lembram a música que estremecia os pilares de concreto ali nem os urros e uivos do público. Há algumas semanas, poucos visitantes, de máscara, puderam voltar à velha boate para ouvir o murmúrio da cidade lá fora, leves vibrações e até longínquas hélices de helicóptero revolvendo o ar.
Em nome da arte, naquela primeira exposição a ocupar o lugar esvaziado pela pandemia, o Berghain voltou a ser o que era –uma ruína industrial crua, agora com a trilha sonora do fim do mundo, tal qual imaginada pelos artistas Sam Auinger e Hannes Strobl.
O som inventado por eles reverberava na caixa brutalista como o suspiro derradeiro de uma era hedonista. Na esteira deles, dezenas de outros artistas levaram suas obras –visuais mesmo, esculturas, pinturas e fotografias– a um Berghain transformado em galeria pelos próximos meses.
Um deles é o fotógrafo Wolfgang Tillmans, que construiu boa parte de seu trabalho –uma crônica visual avassaladora da era clubber– dentro das paredes desse mesmo lugar, mostrando beijos lascivos, a nudez dos mais afoitos, o uso desinibido de todas as drogas.
Essa transformação da boate em espaço de arte ilustra com gosto amargo o fim de um ciclo. Se a secura do techno surgiu no declínio da era industrial em paralelo à aridez do minimalismo, fazia sentido que o templo dedicado ao estilo musical fosse a ossada de concreto de uma velha usina, do mesmo jeito que museus de arte contemporânea há muito vêm sendo esculpidos das carcaças desses prédios.
Talvez o mais notório exemplo seja a Tate Modern, em Londres, um dos museus mais relevantes do mundo que também ocupou os restos de uma usina de energia. A ruína que virou galeria logo se tornou um motor de gentrificação, fazendo da beira do Tâmisa um destino resplandecente.
Não muito longe dali, do outro lado do rio na capital britânica, o Design Museum ecoa essa febre de museificação da noite no pós-noite. Uma mostra recém-aberta traça a evolução da música eletrônica, um arco que vai dos robóticos alemães do Kraftwerk até os britânicos Chemical Brothers.
O contraste entre a promessa da exposição e o que ela entrega, mesmo que críticas tenham rasgado elogios a ela, não podia ser mais melancólico. Embora tente recriar a experiência de se esbaldar no fervor da boate, a mostra sofre com as regras de distanciamento que obrigam o público rarefeito a vagar pelas galerias de máscara, seguindo flechinhas adesivadas pelo chão.
Naquelas salas, cenógrafos tentaram replicar ambientes de clubes de Chicago, Paris, Berlim e Detroit, esta última o berço do techno, que viu a elasticidade sexy da Motown ceder ao bate-estaca elétrico.
Mas, enquanto a mostra londrina parece fracassar ao converter, de fato, o museu em boate, uma exposição do outro lado do Atlântico parte de Detroit como a âncora de tudo.
Em Beacon, no norte do estado americano de Nova York, o museu Dia acaba de reabrir o seu porão com uma única instalação, do DJ e artista Carl Craig. Um dos nomes centrais da cena de Detroit, ele ocupou todo um andar do prédio –por acaso uma antiga fábrica de biscoitos transformada no maior museu dedicado ao minimalismo no planeta– com uma série de luzes que piscam ao som de graves estrondosos.
O vagar pelo espaço se revela, pelo menos em vídeos da mostra, um passeio pela noite esvaziada, a boate tornada estéril, sem o calor dos corpos –um frigorífico de emoções que muda de cor seguindo as luzes do artista.
O trabalho de Craig ali mostra como a música surgida das ruínas industriais pode ser parente próxima dos anseios minimalistas, a depuração da forma que só pode brotar de um mundo que ruiu, um eco ou reflexo do último grito.
No vazio dos museus transformados em boate, revive um fenômeno que a primeira estudiosa das baladas de que se tem notícia, a britânica Lucille Hollander Blum, descreveu nos anos 1960 como solidão partilhada na pista de dança.
Mais tarde, escrevendo sobre o Le Palace, uma danceteria em Paris, Roland Barthes notou que a espinha dorsal dos espaços noturnos era a sensação de tudo-ao-mesmo-tempo-agora, algo inalcançável que se materializava só na boate, a tal comunhão fugidia descrita por Hollander Blum.
Levada aos museus, essa reflexão sobre um todo tão ilusório quanto sedutor ecoa a ideia de Gesamtkunstwerk, ou obra de arte total, que orientou boa parte do modernismo, tendo como exemplo a célebre “Merzbau” do alemão Kurt Schwitters, um ambiente caótico que funcionaria como cenário de qualquer boate.
Da mesma forma que a obra de Schwitters se imortalizou no museu, a mais famosa de todas as boates agora também acaba de virar uma peça de galeria. Em Nova York, o Brooklyn Museum reabriu há pouco uma grande mostra dedicada ao Studio 54, clube que testemunhou –e impulsionou– a transição da ilha de Manhattan de coração de uma metrópole arruinada para a meca cintilante dos yuppies e da plutocracia mundial.
No meio do caminho, artistas e celebridades ferviam na pista do clube, uma antiga casa de óperas transformada em balada. Os organizadores da mostra falam em luzes brilhantes e muita purpurina envolvendo gente glamorosa vestindo looks glamorosos –Andy Warhol, Cher, Liza Minelli e toda a sua entourage– para mostrar roupas, vídeos, peças de decoração, tudo o que sobrou como artefato escavado daquela era.
Lembram ainda que a trilha sonora da mostra tem clássicos das discotecas, como “Le Freak”, faixa da banda Chic escrita em protesto quando as cantoras foram barradas na festa de Réveillon do Studio 54 em 1977, e “I Will Survive”, alçada a hino gay por um DJ da casa. A ironia é que, ao contrário da música de Gloria Gaynor, nada disso parece ter sobrevivido, a não ser agora nas vitrines dos museus.