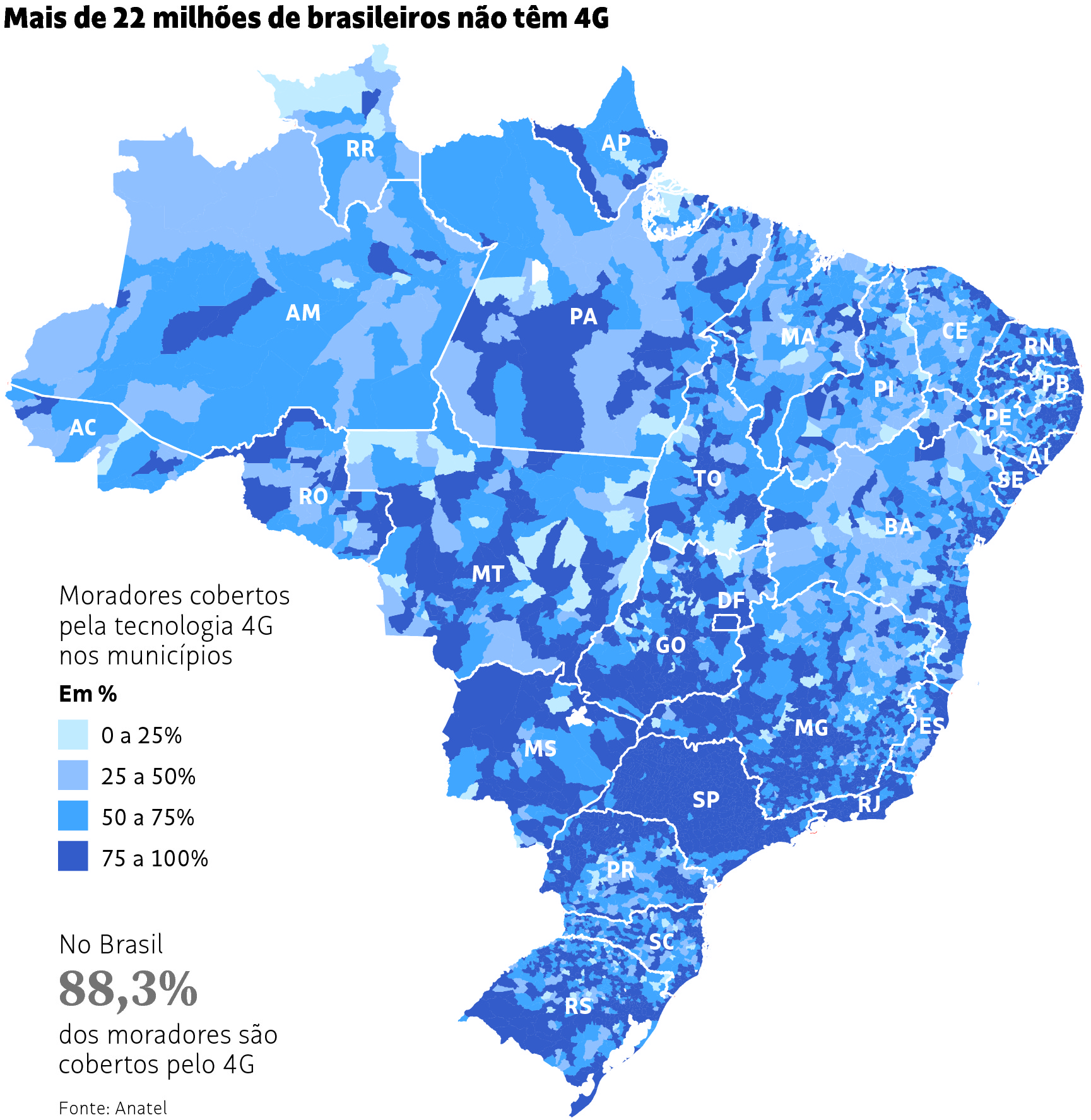INÁCIO ARAUJO – “Costumo pensar que sou 10% português, 20% moçambicano e 30% brasileiro”, diz Ruy Guerra, que chega aos 90 anos em agosto e é homenageado este ano pelo festival É Tudo Verdade. Mas e os outros 40%? São a angústia do imigrante, de estar sempre em solo estrangeiro.
“Nasci em Moçambique, então já era um português de segunda classe. Quando fui para Portugal, era a ditadura salazarista, eu odiei o país. Fui para a França assim que pude e peguei a Guerra da Argélia. Então vim para o Brasil, que na época era um lugar feliz, o presidente era Juscelino, tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo [a primeira, de 1958]. Aqui eu fiquei, só que em 1964 veio a ditadura.”
Antes que isso acontecesse, Ruy Guerra -que agora ganha uma mostra- pôde fazer dois belos clássicos do cinema brasileiro, “Os Cafajestes”, de 1962, e “Os Fuzis”, de 1964. Ainda assim, no grupo do cinema novo ele se sentia estrangeiro. “Qualquer coisa era ‘ó, Portuga et cetera’.”
Vieram os documentos brasileiros, os casamentos brasileiros -com Nara Leão, Leila Diniz, Claudia Ohana-, mas o sentimento continuou o mesmo, a ponto de ainda hoje evocar Fernando Pessoa. “Minha pátria é a minha língua.”
A essa língua ele dedica todo o cuidado. Tanto que até hoje lembra com afeto o amigo Miguel Torres, que morreu aos 36 anos, no final de 1962. Foi Torres o parceiro que trouxe o linguajar carioca para “Os Cafajestes” e depois foi seu guia no Nordeste de “Os Fuzis”.
Com o golpe de 1964, os bons tempos haviam terminado. O Urso de Prata em Berlim pela direção de “Os Fuzis” ao menos o projetou o bastante para prosseguir a carreira no exterior, onde filmou, com produção francesa, “Ternos Caçadores”, em 1969.
Voltou ao Brasil no auge da censura para filmar, com orçamento apertado, “Os Deuses e os Mortos”, de 1970, sobre os quais parece ter sentimentos mistos.
Ao mesmo tempo, parece com quase todos os filmes do cinema novo da época, cuja função primeira era escapar da censura -o que trazia junto a obrigação da obscuridade e da alegoria. Mas é também onde Guerra melhor pôde exercitar seu gosto pelos planos longos e complexos. E, com efeito, belíssimos. A forma salva, às vezes.
Os tempos muito duros no Brasil foram compensados pela independência de Moçambique, de onde trouxe 20% de si. “Cheguei a Maputo no dia da Independência”, diz. Foi 25 de junho de 1975. O país de cujo movimento pela libertação participara quase adolescente o acolheu de braços mais que abertos, mesmo porque Guerra tinha amigos que agora estavam em cargos de governo.
Ruy Guerra organizou o cinema moçambicano, ajudou que desse os primeiros passos e, então, voltou ao Brasil. “Quando você emigra e volta depois de muito tempo, volta a um outro país.”
Ele não ficou fora do Brasil o bastante para que o país mudasse tanto assim -continuava autoritário. E disso “A Queda”, de 1978, é testemunha, ao acompanhar o drama de um peão da construção civil. Mas Mario, o personagem de Nelson Xavier em “A Queda”, segue o mesmo trajeto de Mário (também Xavier), um dos soldados de “Os Fuzis”. Como ele, Mário de certa forma muda.
Parece uma constante (ou ao menos algo frequente) nos personagens de Guerra. Os personagens estão em busca de si mesmos, ora giram em falso, ora se transformam. É possível escolher se o país é pano de fundo da sua ambiguidade ou, ao contrário, se os personagens é que são levados pelos acontecimentos que definem o Brasil.
Assim será também em “Kuarup”, de 1989. Ali encontramos o padre Nando em 1954, mas em 1961 ele virou um funcionário do Serviço de Proteção aos Índios, e três anos depois, o que então se chamava um subversivo -e devidamente torturado.
No meio do caminho, três crises -1954 (morte de Getúlio), 1961 (renúncia de Jânio), 1964 (golpe e deposição de João Goulart). E depois disso Nando está pronto para partir ao exílio para casar com a moça a quem sempre amou.
Autor de filmes quase sempre masculinos, em “Kuarup”, Guerra se embrenha na Amazônia na companhia de um grupo de atrizes heterogêneo -Fernanda Torres, Cláudia Raia, Cláudia Ohana, Lucélia Santos, Maitê Proença- e parece disposto a buscar o máximo de beleza de cada uma, algo que parece vir de dentro e chegar à pele, uma beleza que partilham com a natureza amazônica.
Ah, sim, nesse trajeto cheio de idas e vindas, impossível passar sobre Cuba e Gabriel García Márquez. De García Marquez -por anos diretor da escola de cinema de Cuba- foi parceiro em “Erêndira”, de 1983, “A Bela Palomera”, de 1988, e “O Veneno da Madrugada”, de 2005. E em Cuba dirigiu a minissérie “Me Alquilo para Soñar”, de 1992, que escreveram em conjunto.
Nada dessa parceria, no entanto, iguala a surpresa que foi “Ópera do Malandro”, de 1986. Como em outras vezes, a produção era francesa (de Marin Karmitz) -para algo o exílio há de servir-, mas técnicos e atores totalmente brasileiros, num país sem outra tradição nos musicais que não a chanchada.
“Ópera” parece um desses filmes do puro prazer de filmar, de estar lá, de criar o que parecia impossível, um musical que brilha como se fosse Hollywood, mas tem a cara perfeita de um filme brasileiro.
É verdade que o último de seus filmes lançados no Brasil, “Quase Memória”, de 2015, está no lado oposto, no que diz respeito a encanto. Ainda assim, parece muito melhor do que viver sob o jugo de “um paranoico” (ou seja, Bolsonaro). E, como se não bastasse, enfrentando uma pandemia que imobiliza o cineasta.
Mas não, em todo caso, o poeta. Sua obra é celebrada bem quando, trancado, é forçado a abdicar da linguagem das imagens. O que o salva é a palavra, a poesia a que se dedica todos os dias. Enfim, à língua, a que adotou por pátria, como Pessoa. E onde busca uma definição (parcial) de si mesmo, como neste poema dos anos 1970.
“Vivo sobre um corpo de mulher/ que faz de mim gato e sapato/ que me foge e me desfolha/ e brinca de gato e rato/ Vivo sobre três continentes/ e isso não me contém/ a raiva que trago nos dentes/ não sei se me faz mal ou bem/ Vivo à sombra de um túnel/ do outro lado do sol/ e nesta clave difícil/ me sustento num bemol.”
Fonte: FolhaPress