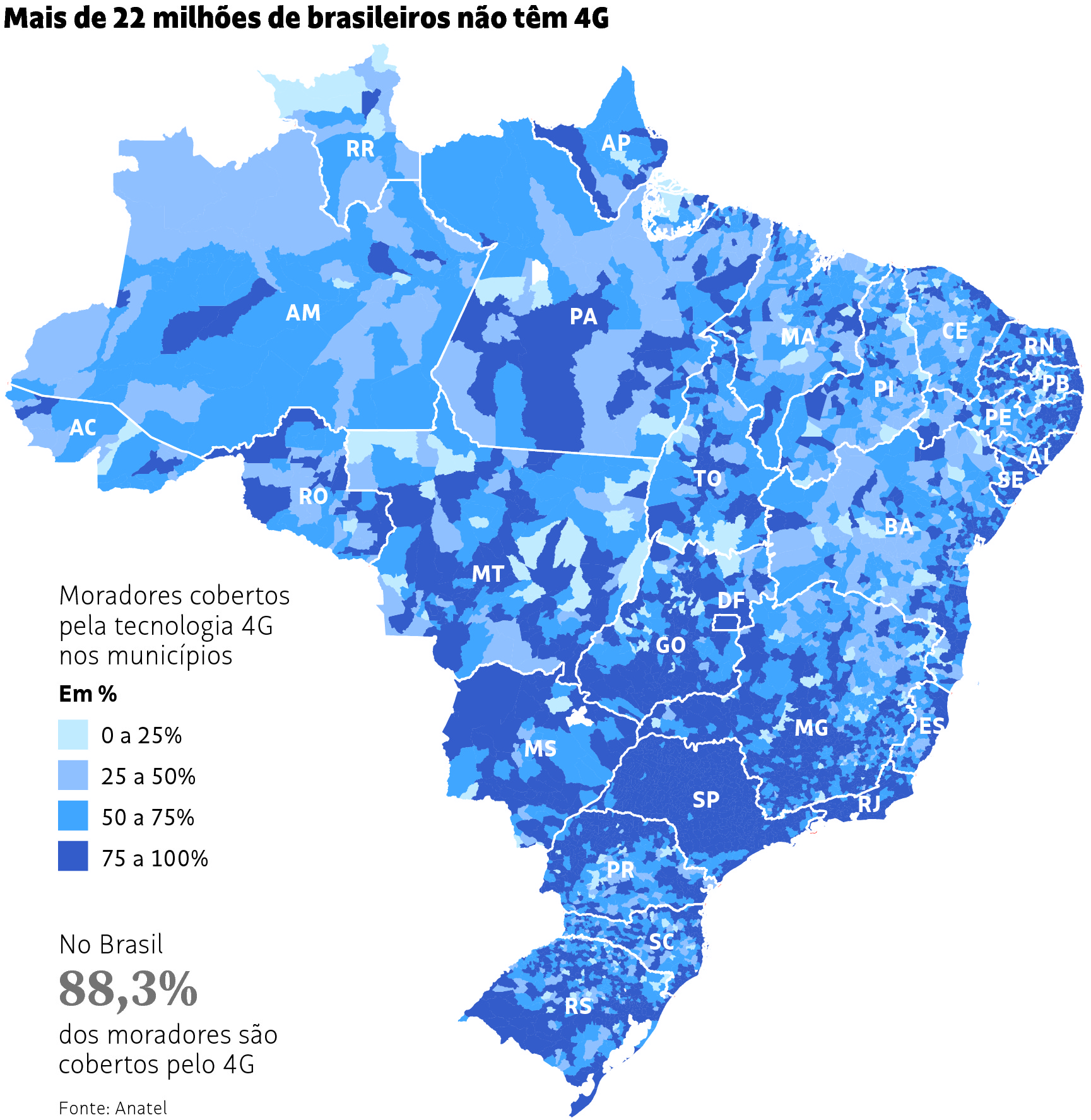NAIEF HADDAD
SÃO PAULO, SP – Na semana passada, com 94% das UTIs lotadas devido à pandemia, o Ceará seguia sob medidas rígidas de restrição, e a população era orientada pelas autoridades locais a se manter confinada.
Há quase 90 anos, “confinamento” era palavra corriqueira no noticiário do estado, mas em um outro contexto.
Depois das secas rigorosas de 1887 e 1915, o Ceará enfrentou uma nova estiagem severa em 1932. Sem ter o que plantar e com os animais de criação à míngua, famílias deixavam o sertão em direção às principais cidades do estado, especialmente Fortaleza.
Escolhido pelo presidente Getúlio Vargas, o interventor do estado, Carneiro de Mendonça, resolveu adotar uma iniciativa já utilizada nas décadas anteriores, preparar um terreno muito bem cercado, com milhares de retirantes trabalhando em troca de pouca comida (só alguns recebiam uma remuneração baixa), posto médico e cozinha. Era o campo de concentração na tradição local.
Não é força de expressão. A imprensa da época usava constantemente a nomenclatura, mas não só. Também apoiava enfaticamente a medida: “Cremos que o campo de concentração do Pirambú auxiliaria a solução do sério problema da mendicância”, escreveu a Gazeta de Notícias.
Mendonça, um capitão do Exército, não planejava uma só grande área de confinamento compulsório, como havia ocorrido na seca de 1915, descrita por Rachel de Queiroz no romance “O Quinze”.
Com o apoio ostensivo de prefeitos, da elite militar da região e da oligarquia cearense, o interventor anunciou em abril de 1932 a abertura de sete campos no estado, dois deles nas imediações da capital.
“[Hoje] todo sofrimento para mim é pouco”, conta Francisca Mourão no filme “Currais”, dirigido pelos cineastas cearenses Sabina Colares e David Aguiar. Com 92 anos na época do depoimento ao filme, ela contou ter passado um ano quando criança no campo de Senador Pompeu, a 272 km de Fortaleza, e que nenhum dissabor vivido nas décadas seguintes se comparava à tormenta de 1932.
Com estreia nesta quinta (1º) em plataformas de streaming, o filme revive o tratamento cruel institucionalizado nesses lugares, chamados de “currais do governo” pelos flagelados -estavam, afinal, cercados como gado.
Dados oficiais de junho de 1932 indicavam 74 mil pessoas vivendo nesses sete locais simultaneamente, mas historiadores acreditam que havia pelo menos o dobro.
Existem apenas dados pontuais sobre mortes. Os relatos dos retirantes sobreviventes, no entanto, revelam que elas eram muito frequentes. Francisca lembra que, logo depois depois de acordar, ela e outras crianças contavam os cadáveres espalhados pelo terreno onde ficavam as barracas de palha. Outros falam de corpos sendo jogados todos os dias em valas comuns.
Só era permitido deixar o “curral” para trabalhar em outro lugar, sempre sob vigilância. Com cabelos raspados, os homens quebravam e carregavam pedras, construíam açudes, abriam estradas; nos campos de Fortaleza, eram operários em fábricas.
“Com tantas mortes, de fome, de doença ou em decorrência do trabalho pesado, chega um momento em que os administradores dos campos precisam de mais mão de obra. Aí colocam as mulheres e as crianças para fazer o trabalho braçal”, conta David Aguiar, um dos diretores.
A expressão “campo de concentração” remete aos métodos do regime nazista, mas é preciso cuidado com a comparação, diz Sabina. As áreas de confinamento no Ceará não eram campos de extermínio, como na Alemanha, e havia atendimento médico, embora fosse precário.
“Era um esquema de escravidão, mas não havia intenção de matar essas pessoas” diz a diretora, que logo faz o contraponto: “Mas ao jogar um monte de gente com inanição para trabalhar, essas pessoas vão morrer, é o efeito colateral”.
Professora de história da Universidade Federal do Ceará, Kênia Souza Rios também vê diferenças entre as duas realidades, mas, com o passar do tempo, nota cada vez mais semelhanças.
“Havia, sim, um genocídio nesses campos de 1932. É possível saber que, naquelas condições, os flagelados morreriam, não era preciso botá-los em câmaras de gás para que morressem”, afirma a autora de “Isolamento e Poder – Fortaleza e os Campos de Concentração na Seca de 1932”, livro no qual o filme é baseado.
Ao contrário do que pode parecer, “Currais” não é “A Lista de Schindler” do sertão do Nordeste. Em uma produção que une documentário e ficção, Romeu (Rômulo Braga) viaja pelo interior do Ceará para tentar entender o que aconteceu naquela época. Ao longo desse caminho, o personagem, como se fosse um pesquisador, conversa com sobreviventes de fato ou com filhos e netos de sobreviventes.
Os campos, tal como eram, aparecem apenas nas poucas fotos daquele período. Restaram não só raras imagens, também há quase nada das construções da época. A exceção é Senador Pompeu, onde estão ruínas de um casarão onde ficavam os chefes do “curral”.
Nessa busca, uma das questões que acompanham Romeu é: por que esses campos foram criados? Vamos criar espaços que garantam alimentação e assistência médica para os miseráveis, anunciava o governo estadual, com o apoio de grupos influentes, como a Liga das Senhoras Católicas de Fortaleza.
“É preciso desconstruir essa justificativa bonitinha”, diz Kênia. Os trens que vinham do interior despejavam na capital cearense famílias fugindo da seca, que não raro se entregavam à mendicância. Justamente nessa época a cidade vivia uma renovação urbana e já despontava como atração turística.
“Era importante que essa massa de retirantes não atrapalhasse esse projeto”, explica a historiadora. Em um acordo das esferas pública e privada, os pobres são levados para os campos. Além desse conveniente acerto higienista, os flagelados poderiam ser úteis como mão de obra extremamente barata.
Para a historiadora e o diretores do filme, é fundamental que esse episódio se torne mais conhecido pelos brasileiros. “Mesmo as pessoas daqui do Ceará não sabem o que aconteceu. É assustador”, diz Sabina.
Como fala Romeu, o protagonista do filme, “o silêncio apaga tudo”.
Fonte: FolhaPress